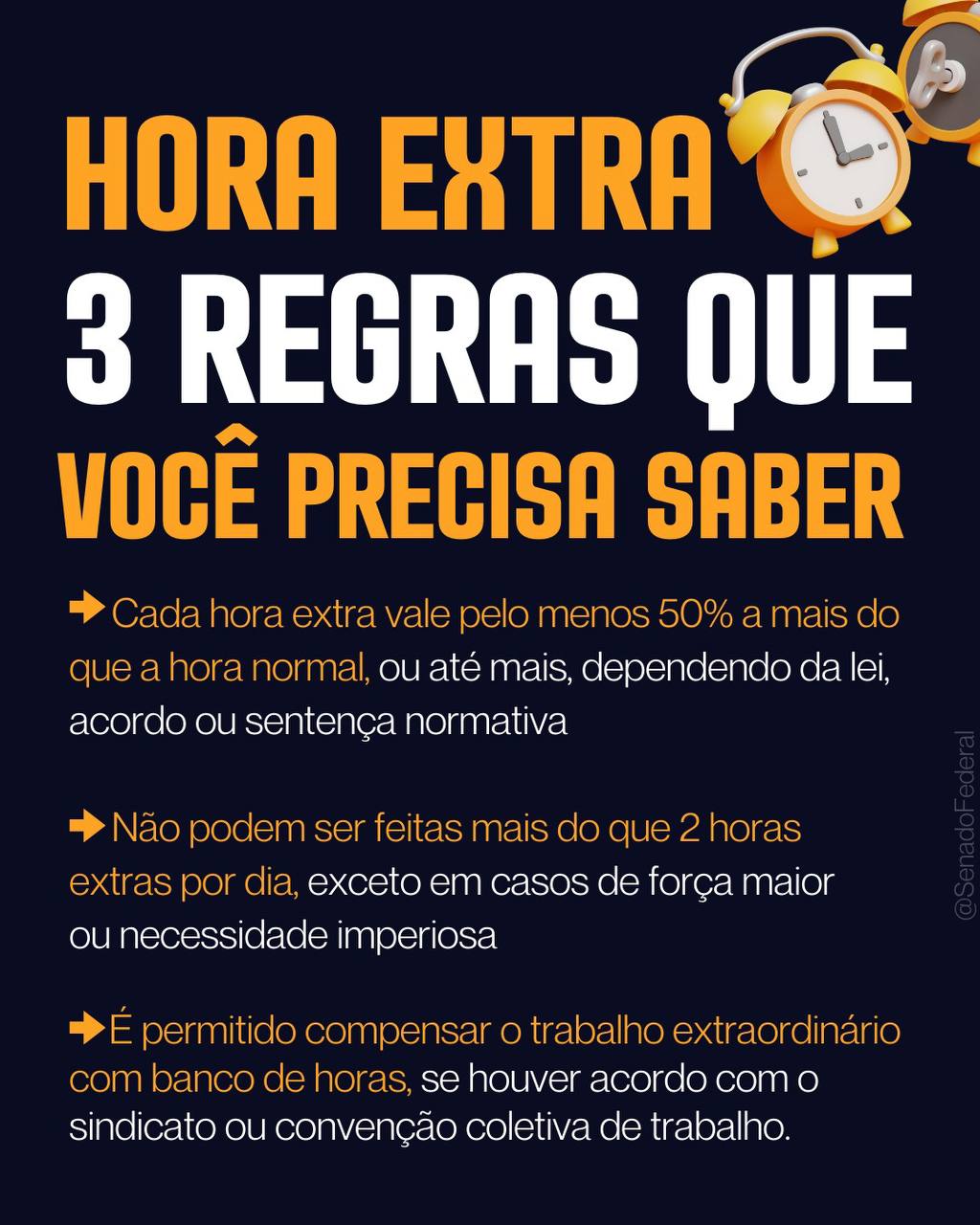Wilson Matos da Silva (*) –
Ao falar em necropolítica no Brasil costuma nos remeter a imagens extremas: corpos assassinados, chacinas, massacres, repressão policial. No entanto, como ensina Achille Mbembe, a política de morte não se limita ao extermínio físico. Ela opera também por meio do apagamento, do silenciamento e da negação da existência social. Há vidas que seguem respirando, mas que, para o Estado e para a sociedade, não contam. Estão vivas biologicamente, mas mortas politicamente. Essa lógica atravessa o cotidiano dos povos indígenas e se manifesta de forma particularmente cruel na realidade dos Terena da região da Grande Dourados.
Um recente ensaio autoetnográfico sobre o acesso à justiça no sul do Mato Grosso do Sul revela como o Racismo de Estado e a necropolítica se materializam nas instituições mais básicas: “delegacias, sistema prisional, hospitais e defensorias públicas. Indígenas são espancados por “perfil”, criminalizados por existirem fora do padrão esperado e silenciados pelo medo. Crianças indígenas, sem registro de nascimento, tornam-se literalmente inexistentes para o Estado: não acessam saúde, vacinação, benefícios sociais ou cidadania. São vidas que pulsam, mas que não são reconhecidas. ”
Essa experiência não é exceção. Ela é regra. E encontra um paralelo direto na trajetória histórica e contemporânea dos Terena de Dourados.
Embora os Terena estejam presentes na região desde pelo menos 1913/1914 — antes mesmo da formalização administrativa da Reserva Indígena de Dourados — sua história é sistematicamente empurrada para as margens. Quando não são ignorados, aparecem como coadjuvantes, como se fossem uma presença secundária, quase incômoda, em um território que ajudaram a construir com sangue, trabalho e resistência.
Esse apagamento não ocorre apenas por ação direta do Estado. Ele é reproduzido, legitimado e naturalizado por um outro poder igualmente violento: O SABER ACADÊMICO.
A academia brasileira, especialmente quando trata da questão indígena no Mato Grosso do Sul, região da Grande Dourados, costuma privilegiar determinadas etnias em detrimento de outras. Não se trata de negar a centralidade histórica e política dos Guarani e Kaiowá — povos que enfrentam uma realidade brutal de violência e espoliação territorial. O problema surge quando essa centralidade se transforma em exclusividade, e outras experiências indígenas são sistematicamente invisibilizadas.
Os Terena de Dourados raramente ocupam o centro das análises, dos projetos de pesquisa, das grandes narrativas sobre conflito, território e resistência. Sua presença é diluída, secundarizada ou simplesmente omitida. Com isso, constrói-se uma memória seletiva, que hierarquiza dores, lutas e histórias. Essa escolha não é neutra. Ela produz efeitos concretos.
É preciso dizer com todas as letras: existe uma necropolítica acadêmica. Ela não mata corpos, mas mata narrativas. E ao matar narrativas, prepara o terreno para todas as outras formas de violência.
Quando a história Terena é apagada, torna-se mais fácil negar políticas públicas específicas. Torna-se mais simples relativizar seu pertencimento territorial. Mais aceitável ignorar sua participação nos processos de formação da Reserva Indígena de Dourados. Mais conveniente tratá-los como “menos indígenas”, “menos originários” ou “menos prioritários”. O silêncio acadêmico legitima o silêncio institucional.
Assim como a criança indígena sem registro de nascimento narrada no ensaio de Andrei Domingos Fonseca não existe para o Estado, os Terena frequentemente não existem para a produção científica dominante. Não por falta de fatos, documentos ou memória, mas por uma opção epistemológica que decide quem merece ser visto e quem pode ser esquecido.
Esse mecanismo é profundamente perverso. Antes de negar direitos, o Estado nega a existência. E a academia, quando se omite ou seleciona suas lentes de forma conveniente, torna-se cúmplice desse processo. Produzir conhecimento não é apenas descrever a realidade; é participar ativamente da sua construção.
A necropolítica opera justamente aí: na administração da invisibilidade. Não é necessário matar quando se pode ignorar. Na Grande Dourados, esse papel tem sido desempenhado de forma sistemática pelas universidades públicas, em especial pela UFGD, que lidera a produção acadêmica regional, e pela UEMS, que, embora em menor intensidade, segue a mesma lógica. Ambas concentram esforços, recursos e prestígio acadêmico em projetos voltados quase exclusivamente aos povos Guarani e Kaiowá, enquanto os Terena são tratados como presença residual, quando não simplesmente apagados. Trata-se de uma escolha política travestida de neutralidade científica.
Romper com essa lógica exige mais do que boas intenções. Exige disputa de narrativa, enfrentamento político e coragem intelectual. Exige reconhecer que a pluralidade indígena da Grande Dourados não é um problema analítico, mas um dado histórico incontornável. Exige inscrever a experiência Terena no centro do debate, não como concessão, mas como justiça histórica.
Produzir memória é um ato político. Contar a história dos Terena de Dourados é enfrentar a necropolítica que insiste em transformá-los em ausência. Enquanto suas narrativas forem tratadas como notas de rodapé, o Estado seguirá confortável em sua política de morte simbólica.
A pergunta que fica não é apenas quem morre, mas quem tem o direito de existir, falar e ser lembrado. Enquanto essa resposta for seletiva, a necropolítica seguirá vencendo — silenciosa, eficiente e legitimada pelo próprio discurso do conhecimento acadêmico. Minha dor enquanto Terena é enorme, mas organizada pela razão!
(*) É Indígena, Advogado Criminalista OABMS 10.689, especialista em Direito Constitucional, é Jornalista DRT 773MS. Residente na Aldeia Jaguapiru – Dourados MS. [email protected]