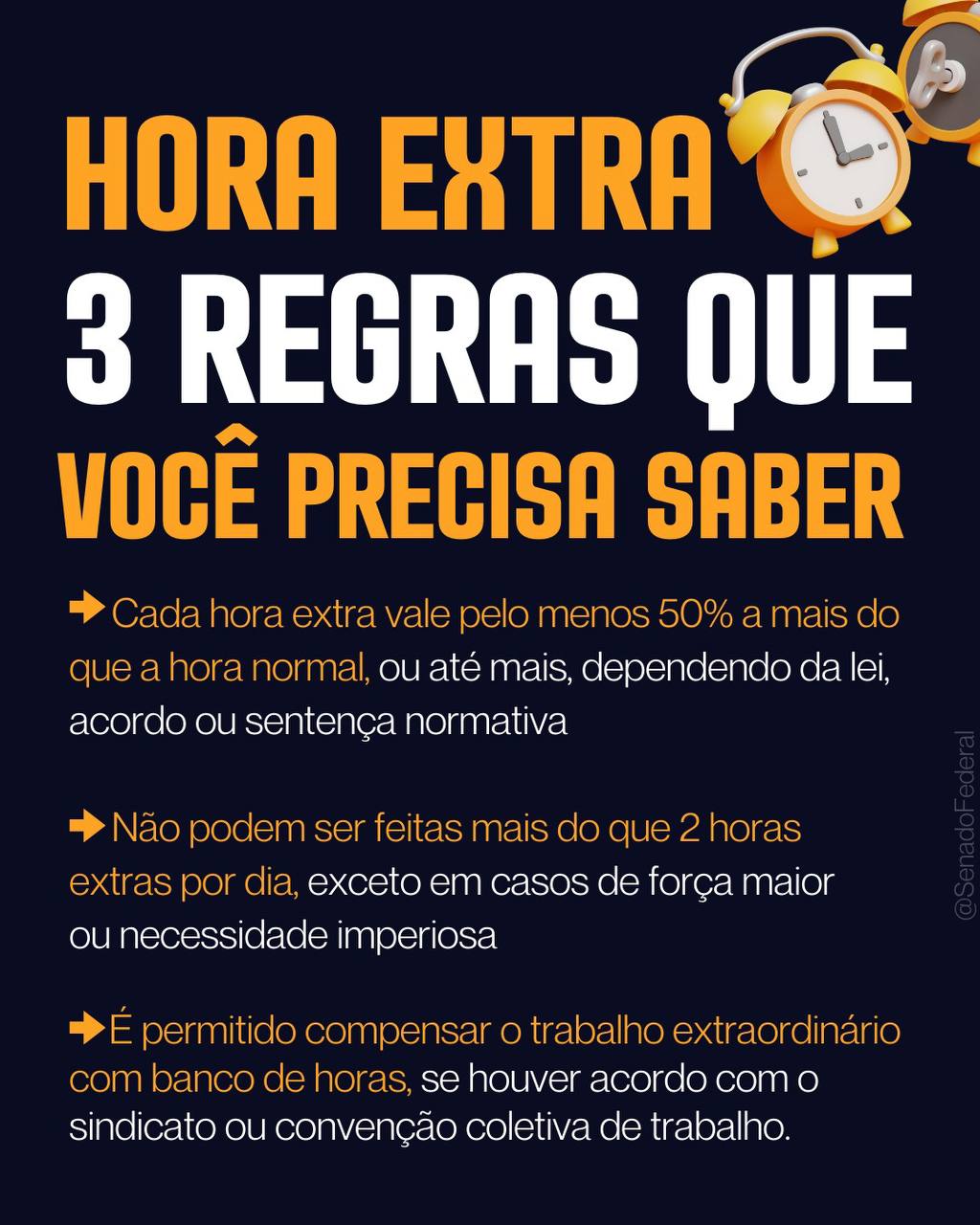Mariana Schreiber, da BBC News Brasil em Brasília –
O inédito ataque dos Estados Unidos à Venezuela e as ameaças do presidente Donald Trump contra Cuba, México e Colômbia evidenciaram a fragilidade da América Latina diante da maior potência mundial.
Para analistas de política internacional ouvidos pela reportagem, a situação é preocupante para o Brasil, mas o país está melhor posicionado que outras nações da região frente à nova ofensiva trumpista, seja por sua maior força econômica, seja pelo prestígio internacional do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
No entanto, os especialistas entrevistados notam que as “armas clássicas” da diplomacia brasileira, ou seja, a capacidade de manter boas relações com diferentes países e atuar com bom trânsito em organismos multilaterais, estão enfraquecidas no novo contexto global, em que nações fortes como os EUA simplesmente impõem suas vontades à força.
Ainda assim, veem pouco a fazer além de continuar apostando no diálogo com múltiplos países e na defesa das regras do direito internacional de não agressão e respeito à soberania das nações. Para os entrevistados, o Brasil deve continuar fortalecendo laços com outras potências como China e Rússia, mas com o cuidado de manter uma boa relação com os EUA, sem melindrar a gestão de Donald Trump.
No início da semana, Brasil publicou uma nota conjunta com México, Chile, Colômbia, Uruguai e Espanha condenando o ataque. Dentro do governo brasileiro, a iniciativa foi considerada importante como forma de não normalizar o ocorrido na Venezuela.
Embora o Brasil aposte na articulação internacional, interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva acreditam que o principal freio para a agressiva política externa americana pode vir de dentro dos EUA, caso aumente o desgaste doméstico de Trump.
Nesse sentido, as eleições legislativas de novembro, em que a maior parte das vagas do Congresso dos EUA estará em disputa, são consideradas cruciais para as ações futuras do presidente americano.
Enquanto isso, a diplomacia brasileira continua se pautando pelo pragmatismo, marca histórica do Itamaraty e de Lula. Mesmo condenando o ataque, o Palácio do Planalto mantém o interesse em um novo encontro presencial entre Lula e Trump neste ano, embora ainda não haja data prevista. Interlocutores do presidente consideram que o contato direto com o presidente americano, um líder centralizador, é fundamental para manter uma boa relação entre os dois países.
Segundo um diplomata ouvido pela reportagem, o governo brasileiro não recebeu qualquer contato dos EUA sobre a manifestação de Lula, que tratou o ataque à Venezuela como inaceitável, logo após a captura do presidente Nicolás Maduro. “Houve zero reclamação”, enfatizou.
A leitura dentro do Palácio do Planalto é que, uma semana após o ataque à Venezuela, os sinais são de unidade em torno do governo de Delcy Rodríguez, vice-presidente que assumiu o comando do país.
Sua continuidade parece garantir a estabilidade que os EUA almejam para explorar o petróleo venezuelano, e é algo que interessa também ao Brasil, que busca evitar uma crise social na fronteira brasileira.
Dentro dessa preocupação, o governo Lula anunciou a doação de 100 toneladas de insumos para garantir a hemodiálise de cerca de 16 mil pacientes na Venezuela, após um centro de tratamento renal ter sido destruído no bombardeio americano.
Para um diplomata graduado, a estabilidade do país vizinho vai depender da intensidade da ingerência americana e do apetite dos EUA pelo petróleo. Se os americanos exagerarem na dose e a gestão Delcy Rodríguez for vista como mero títere americano, o governo pode perder apoio interno e se desestabilizar.
“Difícil saber qual será o equilíbrio na ingerência dos Estados Unidos”, disse.
Em paralelo aos esforços diplomáticos, dentro do governo já se discute a necessidade de reforçar investimentos em defesa, o que esbarra nas limitações fiscais.
Segundo estudiosos das Forças Armadas brasileiras, alguns projetos são considerados estratégicos para ampliar a capacidade de proteção do território nacional, como a conclusão do submarino de propulsão nuclear, em desenvolvimento pela Marinha, e o fortalecimento da defesa antiaérea.
Entenda melhor a seguir, em três pontos, os impactos do ataque à Venezuela para o Brasil e a política externa do governo Lula.

Vice de Maduro, Delcy Rodríguez assumiu o comando do país após ataque dos EUA
1. O que faz Brasil mais forte
Para a cientista política Talita Tanscheit, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), o recuo dos EUA após impor agressivas sanções contra o Brasil mostra que o país tem mais capacidade de resistir às ofensivas de Trump.
No ano passado, a Casa Branca impôs tarifas extras de 40% sobre importações brasileiras e sancionou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com perdas de visto. No caso específico de Alexandre de Moraes e sua esposa, foi também aplicada a Lei Magnitsky, que impõe restrições financeiras.
O governo Trump tentava interferir no processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, mas ele acabou condenado.
No final de 2025, porém, boa parte das tarifas extras foi retirada, assim como a aplicação da Magnitsky, sem que o Brasil fizesse concessões.
“O Trump tentou ser muito agressivo com o Brasil e não funcionou muito bem. O Brasil consegue ter mais autonomia que outros países da América Latina, porque, por mais que ele seja exportador de commodities, ele tem uma cadeia muito mais diversa, por exemplo, do que a Venezuela, que é muito dependente de petróleo”, afirma Tanscheit.
Na sua visão, a Venezuela se tornou um alvo fácil devido ao grande desgaste acumulado no cenário internacional pelo governo de Hugo Chávez, que antecedeu Maduro.
“Trump viu que tem que negociar um pouco diferente com o Brasil. E ele viu também que o Lula não é qualquer pessoa, com todo o respeito aos outros presidentes da região”, continuou a professora.
O cientista político Ian Bremmer, fundador da consultoria de risco Eurasia Group, também vê o Brasil mais fortalecido.
Em resposta a uma pergunta da BBC News Brasil em uma coletiva de imprensa na segunda-feira (5/1), ele destacou que o país não tem “problemas de segurança nacional” com os EUA e também exaltou o bom desempenho do país nas negociações comerciais com Trump.
“O Brasil está, na verdade, em uma posição mais forte”, disse Bremmer, após apresentar o relatório anual da Eurasia sobre riscos globais.
“Se o Brasil tivesse um problema de segurança nacional com os EUA, seria outra história, mas isso não é realmente um componente dessas conversas, que são esmagadoramente sobre comércio.”
O cientista político Hussein Kalout, ex-secretário de Assuntos Estratégicos no governo de Michel Temer (MDB), também vê o Brasil melhor posicionado, mas prevê novas movimentações após os ataques à Venezuela.
“O Brasil tem uma estrutura muito mais robusta do que os outros para resistir, mas vai precisar pensar mais a frente em duas coisas: maior autonomia securitária de defesa e também, naturalmente, que tem pessoas no governo brasileiro que vão pensar em uma aproximação mais intensa com a China, Rússia”, ressalta.

Protesto contra EUA em Bogotá: ataque à Venezuela deixou América Latina em alerta
2. As relações com EUA, China e Rússia
Os analistas entrevistados dizem que o enfraquecimento de organismos multilaterais, como o Mercosul, a União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e a própria Organização das Nações Unidas (ONU), deixa a política externa brasileira em uma posição vulnerável.
O Brasil, que nunca foi uma potência militar, sempre apostou no multilateralismo como uma forma de obter mais projeção internacional e se proteger.
“Em um contexto em que o multilateralismo está completamente desafiado, enfraquecido, as nossas, entre aspas, armas, não são as mais eficazes”, nota Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).
Ela chama atenção para como as tentativas do Brasil de se colocar como um mediador de conflitos foram ignoradas. Lula chegou a mencionar o tema em conversas com Trump no ano passado, sem sucesso.
“É a concretização de uma percepção que já estava colocada, desde o início do governo Lula, de que realmente o Brasil já não é mais uma liderança regional como tentou ser em algum momento”, constata.
Especialistas apontam que o mundo parece estar passando por uma transição, do multilateralismo para esferas de influência, em que grandes potências nucleares como EUA, Rússia e China impõem suas vontades à força nos seus “quintais” regionais.
“O que está muito claro é que o que Trump propõe é a divisão do mundo em esferas de influência e, dentro da esfera de influência, é a lei do mais forte. Então, não há regra [internacional]”, afirma Hussein Kalout.
“E a violação das regras é feita pelos três”, continua, em referência às maiores potências do planeta.
Na sua visão, o Brasil terá que navegar esse novo ambiente buscando manter relações com EUA, China e Rússia, ao mesmo tempo que se articula com outras nações na defesa do direito internacional, buscando “a maior coalizão possível”.
Para Kalout, não há problema no Brasil criticar violações das regras internacionais pelas três potências, desde que mantenha coerência, ou seja, use a mesma crítica contra todos.
“O Brasil vai ter que se equilibrar entre essas violações. E o melhor jeito é sempre clamar o respeito das regras, porque é o discurso que mais nos protege também. A não ser que o Brasil decida se tornar uma potência nuclear”, afirma.
“Confrontar é uma coisa, afrontar é outra coisa. Nada exclui a possibilidade de o Brasil ter posições duras, desde que elas sejam de forma coerente e não de forma seletiva.”
No caso do ataque dos EUA à Venezuela e captura de Maduro, Lula disse em suas redes sociais que essas ações eram uma “flagrante violação do direito internacional” e que “ultrapassam uma linha inaceitável”.
Já no caso da invasão da Ucrânia pela Rússia, o Brasil condenou a “violação da integridade territorial ucraniana” na ONU.
Assim como o governo Lula mantém bom contato com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a expectativa dos especialistas é que o líder brasileiro manterá diálogo com Trump mesmo após o ataque à Venezuela.
A China, por sua vez, promete, há muito tempo, a reunificação com a Taiwan autônoma e, desde o ano passado, intensificou a presença militar na região. Analistas temem que a ação americana na Venezuela inspire os chineses a adotarem medidas mais agressivas.
3. Investimentos em defesa
Os especialistas ouvidos acreditam que o ataque à Venezuela fará o Brasil repensar sua estratégia militar e, possivelmente, ampliar investimentos em defesa.
O Brasil, ressaltam, não será capaz de chegar ao nível militar dos EUA, mas pode fortalecer seus mecanismos de defesa e dissuasão de ataques.
“O fato de você não poder se equiparar a uma potência não quer dizer que você não pode ter uma força militar defensiva”, nota Kalout.
“Porque é obrigação do Estado garantir a defesa dos cidadãos. É natural que as Forças Armadas pressionem por mais orçamento agora.”
Professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), Júlio César Cossio Rodriguez é estudioso das Forças Armadas e destaca três investimentos estratégicos que deveriam ser acelerados, na sua visão:
- O projeto Astros 2020, de defesa antiaérea, que prevê expandir a artilharia de foguetes e mísseis.
- O desenvolvimento de um submarino de propulsão nuclear, superior ao submarino comum por ser mais rápido e ter autonomia maior, podendo ficar meses submerso.
- E a expansão da frota de caças Grippen, o chamado projeto Fx-2.
Todos esses projetos, ressalta, sofreram atrasos devido a limitações orçamentárias.
Para Rodriguez, ampliar os investimentos depende de uma revisão do arcabouço fiscal, que limita a expansão de gastos públicos. Defensores do mecanismo, por outro lado, dizem que ele é necessário para evitar o descontrole da dívida pública e manter a estabilidade econômica do país.
“Estamos todos muito debilitados em termos de Forças Armadas. Não vamos conseguir adquirir grandes equipamentos, fazer grandes transformações agora, mas o mundo que está em rápida transformação exige mudanças, preparação para os próximos 15, 20, 30 anos. E isso não se faz sem investimento público de grande vulto.”