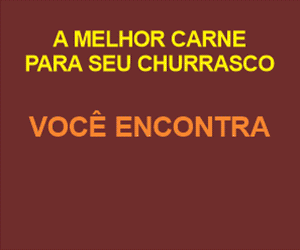08/09/2017 13h11
‘Sem destino final’
Por: Folha de Dourados
(*) Rebecca Loise
Um final de semana de análise me custa o ônibus de ida, o ônibus da volta, duas sessões de um expressivo valor, quatro horas para chegar, quatro horas para voltar e, no caminho da volta, um caminhão ou carreta tombou na pista. Pouco me importa a diferença que existe entre estas invenções humanas que fazem fumaça, um troço grande tombou na pista e estamos todos, passageiros, parados na estrada que corta um cerrado de clima seco, seco, seco.
O sol já se pôs, então imagino que já passou das dezoito. A lua brilha cada vez mais à medida que o céu vai ganhando escuridão. Um susto de consciência no clarão de ideias e, de repente, me considerei extremamente lúcida da minha singular insanidade. Como gasto esta quantidade de energia monetária e não tenho nada em meu nome a não ser a identidade, como gasto esta quantidade mais o valor da diária do hostel e das viagens urbanas de uber na capital e não tenho uma casa na praia, um livro publicado, sapatos limpos, um armário de escritório com gavetas para guardar o tufo de papeis que acumulo porque não sei jogar nada no lixo – nem reciclar meus amores – achando que um dia vou precisar desse acúmulo amontoado de nada para não ficar na falta?
Nunca planejei minha vida e sigo dançando. Saí da análise sem saber de que lado fica a direita ou a esquerda, desnorteada feito daltônico em frente ao semáforo, ouvindo que levarei anos para transformar meus fantasmas em fantasminhas. Saí tão severamente desolada que, no momento, poderia ter tocado Desolation Row, de Bob Dylan, ao fundo. Eu parada na Avenida Afonso Pena, tentando conexão da 4G e novas sinapses. Acabei por decidir ir ao shopping mais próximo do endereço que confirmava a localização da minha geografia corpórea. Cheguei ao antro do consumo onde o dia fica ainda mais dia com o exagero de lâmpadas brancas – aquilo mais parece um hospital do capital – e não sabia qual seria a próxima ação a partir dali. Havia comido há pouco no hostel, de modo que fome eu não tinha. Marcava onze e alguns minutos quebrados no relógio do celular – no pulso esquerdo um relógio me pesaria ainda mais o tempo – e as lojas, aos domingos, abrem depois do meio-dia. Peguei uma salada de fruta e sentei num banquinho quase em frente à livraria. Tentei abrir o site da empresa de ônibus pelo celular, mas a 4G não estava atenta aos sinais. Queria descobrir os horários de volta da capital para o interior para chegar a alguma conclusão sobre meu rumo. Perto do meio-dia consegui o acesso. No site dizia que o próximo horário seria às quinze. Dali para adiante, teria três horas. Contabilizei errado porque precisaria ter saído quarenta minutos antes para chegar a tempo de comprar a passagem das quinze horas na rodoviária, passar pela catraca, subir no ônibus. Não cheguei e peguei o que saiu às catorze. Agora estamos todos, passageiros, parados na estrada que corta um cerrado de clima seco, seco, seco.
Dali para adiante, pensei, teria três horas. Com este limite materializado na imensidão que antecede a todo tipo de fim da existência, resolvi arriscar mais um convite a um amigo que vive me dizendo “não”. Ele descobriu Os Mutantes recentemente e anda meio desligado, interpretando “It’s very nice para xuxu” dentro do carro, às três da manhã, com uma entrega de quem se joga de prédios. Chamei-o para me encontrar ali para provavelmente almoçar, dizendo que meu ônibus sairia às quinze, e ele respondeu, claro, que teria que recusar meu convite porque tinha acabado de cozinhar algo para ele. Na verdade, ele respondeu que havia cozinhado uma gororoba antes de meu convite. Ao dizer esta palavra – gororoba – ele me comoveu imensamente pois esta me é uma palavra familiar – na minha casa nunca teve comida, só gororoba. Dessa mais uma negativa, ainda me saí educada lhe desejando um bom almoço. Ele agradeceu em japonês: arigato. Coisa que também me comove.
Entrei na livraria querendo um livro inédito, chega de meus velhos autores mortos. Cheguei a comentar com o atendente de minha missão e ele, parecendo gentil, respondeu que, se eu quisesse passar meu e-mail, ele poderia me enviar dois romances que está escrevendo. Um sobre suicídio e outro sobre esquizofrenia, continuou. Sustentei um olhar de espanto dócil em sua direção e disse que depois poderia lhe entregar meu cartão profissional, de onde podia copiar o endereço de meu e-mail para enviar os arquivos. Minha simpatia não disse a verdade: estou abarrotada de prazos não cumpridos e todos os livros são esquecidos antes das páginas finais pelos cantos da casa. Mais uma verdade que possivelmente ficou presa entre os dentes durante meu sorriso cortês: trabalho justamente com essas temáticas do mundo psi e de vez em quando é bom deixar para lá. Lancei a promessa da disponibilidade servil ao acaso da vida e mudei de assunto.
Perguntei para ele o que ele tinha de Philip Roth porque, desses autores mais contemporâneos, ele é um desses considerados bons da letra. Uma vez peguei “O Complexo de Portnoy” emprestado de um colega de república e me recordo que adorei o sarcasmo e a amargura que encontrei no início dos primeiros parágrafos. Saí desta república por amor às causas perdidas e deixei o livro lá, claro, porque meu não era. Não que eu já não tenha cometido pequenos furtos. Todos pagos em penitência pela lei do aqui se faz, aqui se paga. Já me levaram Clarices, Rimbaud, um CD da Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, Milan Kundera, Eram os deuses astronautas?, e outras posses que talvez nunca as tenha lido ou exaustivamente escutado, mas emprestei.
De Philip Roth, o atendente me deu um exemplar de “Homem comum”, um de “Indignação” e outro que não me lembro do título, mas que não era aquele que abandonei no início quando também abandonei a república. O dono do livro em questão, inclusive, trabalha num jornal de grande porte, no caderno de cultura. Teria me graduado em jornalismo não tivesse saído de Curitiba. A vida tem disso, enormes reticências nas datas em série sem fim do calendário. Buracos de existência que só se vive na fantasia do arrependimento. Esse colega, vale dizer, veio de Curitiba para tentar a sorte em São Paulo. Acompanhando-o pelas redes sociais, parece que tirou a sorte grande. Aliás, facebook é um monstro que nos engole e denuncia: felicidade é sempre virtual. Quando a gente acha que está sentindo, compartilha e, no ato, já virou notícia velha do feed de notícias. A vida virou uma novelinha das 7 que dura 24 horas online. Tenho nostalgia do tempo de contemplação dos gregos.
Peguei os três exemplares do Philip e mais o último, inédito e póstumo de Roberto Bolaño – “O Espírito da ficção científica” – e subi a escada que dá para um café na livraria. Li a orelha e a contracapa de todos, buscando algo que me ligasse a alguma das tramas. Numa inquietação dessas que sofremos em tempos de cronologia neoliberal, abri o WhatsApp e resolvi escutar um áudio que um primo me enviou já deve fazer um mês. Quando fui gravar outro em resposta, uma mocinha que lia obstinada à minha frente, com a mochila estendida na cadeira ao lado de onde se portava, parecendo lhe fazer companhia, começou a respirar mais alto e a se contorcer ali mesmo, onde estava sentada. Ao perceber que estraguei sua concentração, larguei meu casaco estendido sobre a mochila que também me fazia companhia na cadeira ao lado, como se isso fosse ter segurança em relação aos meus pertences, enviei o áudio sem conclusão ao meu primo e iniciei outro perambulando pelo andar de cima da livraria. Em educação, entreguei de volta a quietude para a moça leitora.
Este primo sempre quer saber se eu já não perdi a cabeça de vez, me pedindo, de certo modo, que eu o atualize de minha crise existencial. Sempre estou dentro de um mata-leão desgraçado onde eu mesmo sou o leão que se mata (atire a primeira pedra quem não vive uma batalha suada com a maldita voz da consciência moral). Eu não sei se o leitor desavisado percebeu, mas nesta última frase, preferi me conjugar no masculino porque, diferente do que se acredita, o cronista necessita abusar da ficção para que sua cabeça não seja pendurada em nenhum tipo de praça pública, de maneira que quem o acompanha deve sempre sair do texto com aquela dúvida: será que aquilo tudo é fato vivido ou uma descrição digna de alterego?
Enquanto gravava o áudio, com a voz no estilo de quem segreda verdades íntimas, percebi minha mão apalpando um livro. Quando dei por mim, já havia o retirado da prateleira. “A solidão dos moribundos”, de Norbert Elias. Um livro de 1982 traduzido do alemão e publicado em 2001. Não adianta, além de cair nos escritores/pensadores já mortos, eu ainda preciso de uma boa dose de densidade. “A solidão dos moribundos” me pareceu um título interessante para quem está lidando com a morte de alguém tão próximo que é quase como se parte de si também tivesse morrido. Em mais palavras, estou naquele estado de existência em que se deve resistir à matéria e rexistir – com ‘x’ mesmo – à vida de onde costumam exterminar o óbvio: que ela, em sua delicada simplicidade, acaba, encerra, termina. That’s all folks. Não passa reprise. Como, na missão a qual me propus ao entrar na livraria, eu precisava seguir meu propósito de escolher um livro marcado pelo ineditismo desta época a qual estou mais pertencida, resolvi não pagar R$39,90 na obra de 82. Mas algo dele estou levando. Transcrevi um trecho em meu diário que dizia exatamente assim:
Nem mesmo hoje a arte da medicina avançou o suficiente para assegurar a todos uma morte sem dor. Mas avançou o suficiente para permitir um fim mais pacífico para muitas pessoas que outrora teriam morrido em terrível agonia (ELIAS, 2001 [1982], p. 21).
O ato da morte de minha avó foi sem poesia: o coração foi o último a parar quando já nem o cérebro respondia à sua pulsação. Evidentemente, a dor não foi ela quem sentiu. Um tubo pelo nariz, outro pela boca, outro mais fino pela veia cuidou de manter seu corpo inerte em analgesia até, por fim, seu coração adormecer sem a novidade de mais um movimento mínimo que deixava uma máquina contabilizar seus sinais vitais. Escrevo esta frase com a música “Hallelujah”, na versão de Jeff Buckley, vindo da rádio do motorista do ônibus. Ele acabou de fazer o alarme, disse: “15 minutos para a janta” e deixou a porta da cabine aberta. São 7:34 para depois do pôr do sol, mais uma informação que tenho gratuitamente por ter ouvidos, anunciada pela mesma rádio. Esta linha de pensamento me lembrou a fala de um sensível enfermeiro da UTI onde minha vó ficou acamada em seus últimos dias. Ao passo que ele trouxe a triste informação de que a ilustre paciente que eu visitava sempre em tom de despedida não estava respondendo à hemodiálise, também recomendou, este mesmo enfermeiro cuidadoso, que falássemos com ela porque, explicou, a audição costuma ser o último sentido que se perde na situação da qual estava sujeita: a de ir processando a morte de si mesma e de toda materialidade ao seu redor em gerúndio arrastado.
Se eu pudesse pedir agora uma música para tocar na cena em que estou mergulhada, escrevendo sob a tutela da única lua de que a Terra tem notícia e das luzes baixas do ônibus em movimento, pediria para tocar “Poema”, na voz do Ney Matogrosso.
“…senti um abraço forte/ já não era medo/ era uma coisa sua que ficou em mim/ de repente a gente vê que perdeu/ ou está perdendo alguma coisa/ morna e ingênua/ que vai ficando no caminho/ que é escuro e frio mas também bonito/ porque é iluminado/ pela beleza do que aconteceu/ há minutos atrás”
Chorei esta música do início ao fim no último show do Ney que fui, que calhou de ser no dia em que minha vó foi sepultada, 28 de Julho de 2017. O show e o sepultamento sob e por debaixo da terra vermelha do cerrado de Mato Grosso do Sul. Entrei no camarim pós-show justamente por levar comigo a herança da vida extravagante que ela teve, e que por tantas vezes a compartilhou com Ney em andanças artísticas na ponte Rio de Janeiro – São Paulo. Lá, no camarim, um sujeito de leveza de nome Marivaldo, que trabalha há dezenove anos com Ney e que também sabia quem era Clay Corrêa, minha vó, revelou que esta canção que escolhi para chorar a saudade dela foi escrita por Cazuza em homenagem à sua avó. A vida é o maior barato quando dá de graça coincidências poéticas como essa.
Não fosse este tempo dentro do ônibus que, por ocasião, me obriga a ficar quieta e sentada por longas e duras horas, eu talvez não tivesse me dedicado a esta crônica que, bem sei, me poupa de outros estados crônicos de existência, como aquele em que me encontrava no início do texto: pondo – sob o sol que já se pôs – a vida toda num jogo de xadrez. Sou o tipo de escritora que no futuro poderei publicar o meu pa
ssado tamanho excesso de presente. Quem sabe não me transformarei em canção que toca na rádio de motorista que toma a estrada entre fronteiras.
Voltarei agora à leitura de Bolaño – levei este exemplar no xeque-mate da dúvida – para aproveitar o resto da viagem que me obriga a permanecer encaixada à poltrona, sem risco de maiorias distrações. Eis a vida que segue como um ônibus em movimento, eu passageira, totalmente desconhecida de que modo a vida, que eu levo e que me leva, estacionará em seu destino final.
(*) Rebecca Loise é psicóloga e mestra em Psicologia (PUC-SP), professora universitária e atua como psicanalista em consultório particular. Bailarina, escritora, poeta e amante das artes cênicas. Desde 2010 alimenta seu blog “De Sóis Noturnos” (www.rebeccaloise.blogspot.com). E-mail: [email protected]