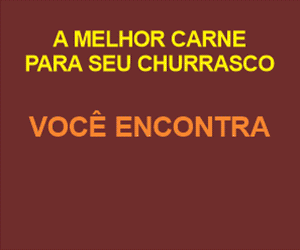18/11/2019 07h42 – Por: Folha de Dourados
Clique aqui e curta nossa página no Facebook
No livro “A mãe de todas as perguntas”, de Rebecca Solnit – irmã de nome, historiadora, ativista e uma mulher de voz -, encontrei a frase da poeta Muriel Rukeyser: “O que aconteceria se apenas uma mulher contasse sobre a sua vida? O mundo se cindiria.” A esta frase ela acrescenta que a segunda fase do feminismo (entre os anos 60 e 70) foi um momento marcante porque muitas mulheres decidiram por contar a verdade sobre as suas vidas, onde, inclusive, o próprio silêncio foi tema chave quando resolveram abrir a boca e continuar a luta por um teto todo delas.
Comecei a escrever esta verdade sobre a minha vida de mulher, a de que tive um aborto, na janela de um grupo de WhatsApp das minhas amigas da época da academia de ballet. Comecei dizendo assim:
“Estou comunicando aos poucos. As palavras estão nascendo na língua. Eu tive uma gravidez anembrionária e sofri um aborto – e eu acho da maior importância sair do tabu e do silêncio. Vim contar para vocês – até para eu desenvolver, aos poucos, um texto com explicações informativas e um depoimento pessoal sobre o assunto – que eu nunca soube da possibilidade de existir um diagnóstico como esse, de gravidez anembrionária”.
Sem querer, apertei enviar. As psicanalistas diriam: ato falho. Num sobressalto, cliquei em “apagar para todos” o texto incompleto e prometi que o enviaria na íntegra depois. Passaram-se cinco dias desde que resolvi ocupar com palavras o que me ocorreu, em 25 de Setembro deste ano fascista. Não voltei a dar às caras no grupo. O tempo é irrecuperável e driblá-lo em sua pressa de passar sem descanso é uma árdua tarefa para os viventes do século XXI. Voltei a escrevê-lo hoje, domingo primaveril de setembro, data 29; dezesseis dias passados desde o dia em que tive o aborto. Sou extremamente detalhista com meus fragmentos. Cada detalhe guardado em mudez abre uma cratera na minha garganta. A escrita comprova a minha existência. Não tenho pudor algum de abrir as linhas dos meus pensamentos. Meu grande tema enquanto escritora, poeta e vivente sempre foi a existência, a minha, a das coisas, a das pessoas que me afetam e a das pessoas que buscam a minha escuta analítica no consultório. O aborto foi a experiência mais radical que passei por ter um corpo de mulher. Como pude sangrar tanto e ter continuado viva? E mais: como pude ter o útero esvaziado de uma gravidez e, no ato, ter criado uma força selvagem para resistir à dor da perda?
Desde o primeiro ultrassom houve suspeita de que minha gravidez seria anembrionária. Este tipo de gravidez ocorre quando o embrião não se desenvolve por algum misterioso motivo depois da fecundação do óvulo, porém, o corpo engravida para abraçar o óvulo fecundado sem saber que dali não vingaria um embrião.
Em 2 de Setembro de 2019, data do primeiro ultrassom, foi visto o colo do útero fechado, o saco gestacional bem posicionado, todavia, dentro dele, estava vazio. A tal da gravidez anembrionária, inclusive, ganha um termo popular de “ovo cego”, do qual não considero ser apropriado pela poética do a-feto. Mesmo que dali do meu ventre não tenha se desenvolvido um feto, é óbvio dizer que há afeto. Neste dia eu estava na sétima semana. A minha placenta configurou-se para o destino de servir de comunicação entre mim e o filho que sonhei que viria, e produziu os hormônios necessários para a gestação. Todos os mais insanos sentimentos de mãe brotaram no espaço do meu corpo. Enjoo não senti, consegui engolir tranquilamente as cápsulas de ácido fólico e de vitaminas, incluindo ômega 3, todas as manhãs desde a descoberta do positivo, consegui me alimentar sem ter um vômito sequer após as refeições, mas senti o famoso cansaço e as minhas mamas doloridas. Com o passar dos dias observei no espelho os bicos do seio ficando arroxeados.
A principal explicação da ciência para a gravidez anembrionária é a de que seja resultado de uma alteração nos cromossomos que carregam os genes dentro do óvulo ou do espermatozoide. Esta alteração pode causar uma anomalia cromossômica, efeito de uma falha genética durante a união entre os gametas. De acordo com artigos informativos e científicos que vasculhei internet a fora, buscando o saber que me faltava para dar conta deste medo sem nome, desta angústia sem nome, deste vazio sem nome que me subia do ventre ao coração no momento das incertezas suspeitas, este tipo de gravidez pode ser experienciada no corpo de qualquer mulher, com risco maior para as que engravidam após completarem 38 anos de vida. A porcentagem é a de que aproximadamente 15% das primeiras gestações podem ser interrompidas no primeiro trimestre, um dado que explica porque muitas mulheres aguardam sair deste período inicial para comunicar a notícia.
Eu, costumeiramente fora dos padrões, mais grito que silêncio, mais intensidade que diplomacia, mais coração que razão, consegui mais ou menos guardar por quatro dias a informação. Digo mais ou menos porque na quinta-feira do dia 8 de agosto, data dos exames que deram positivo tanto no teste qualitativo do Beta-HCG tanto no teste de urina que se compra em farmácia, meu companheiro e eu fomos dar a notícia presencialmente para a família dele e para a minha. A família dele se parece com ele, mais reservada e cautelosa, e deixaram a notícia circular no ritmo do boca a boca, de mensagem do WhatsApp em mensagem do WhatsApp. A minha família é mais parecida comigo, comunicativa e escandalosa. Logo que contei meus dois irmãos publicaram no Instagram e minha mãe no Facebook. Resultado: eles comunicaram para o universo virtual a notícia antes de mim. Recebi mensagens no WhatsApp de amor & felicidade pela notícia de pessoas que visualizaram a publicação deles. Na data da descoberta, eu estava na véspera de uma viagem a trabalho para a cidade de Campo Grande. Viajaria para dar um minicurso no dia seguinte, com a temática da intersecção entre psicanálise e arte, num congresso de psicologia clínica pelo Conselho Regional de Psicologia do Mato Grosso do Sul.
Engraçado pensar, agora me organizando num amontoado semântico, como a vida foi me dando subsídios para lidar emocionalmente, teoricamente e artisticamente com a interrupção abrupta de um sonho de ser mãe e de um corpo de grávida. Antecipando alguns capítulos da história, ao comunicar os pacientes que eu precisaria desmarcar as sessões por dois dias após o procedimento cirúrgico da curetagem, eu os acolhia e me acalentava citando Sigmund Freud. Para cada um, de maneira improvisada, eu passava a ideia de um dos principais textos do pai da psicanálise, no qual ele teoriza que são três as fontes inesgotáveis de desprazer e de sofrimento para quem paga o preço de estar na cultura: o corpo – que adoece, sofre, envelhece, aborta, cai em angústia e morre -; a natureza – que esfria, esquenta, molha, destrói, afunda, destelha, arrebenta incontrolavelmente diante de qualquer saber que a consciência do homem alcança -; e, por fim, e não menos devastadora, a fonte de desprazer e de sofrimento vinda dos relacionamentos humanos – marcada pelos não-ditos, mal-ditos, incestos, parricídios, complexos, encontros e perdidos, guerras, lutas e lutos. Na edição da editora Imago das obras completas de Sigmund Freud, o trecho se apresenta assim:
“O sofrimento nos ameaça a partir de três direções: de nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens” (FREUD, 1930 [1929], p.141).
Do vazio viemos, na ilusão de tampar e preencher o vazio perseguimos alguma satisfação e, enfim, um vazio deixaremos. Fluxo vital. Ciclos circulares. Beabá existencial.
A aposta da psicanálise é a cura pela palavra através do amor de transferência. Não sendo possível controlar o corpo, a natureza e a vida, aposto – no espaço que ocupo como psicanalista e artista – na coragem de reelaborar o traumático, enfrentar a angústia com o arsenal das palavras e do que há de simbólico, e criar arte frente à morte indizível e misteriosa. A arte ensina que se deixar cair no abismo de uma dor ou de um amor abissal faz do imaterial sem nome da angústia a matéria-prima de uma obra criada. Em resumo, Freud coloca a sublimação como um destino alternativo para a pulsão em busca de uma realização prazerosa. Jacques Lacan, freudiano que foi, complementa esta noção como o ato de elevar um objeto qualquer à dignidade do objeto que perdemos para entrar na lógica do desejo em nosso percurso de vida. Quer dizer, a criação artística possibilita uma transposição de algo impossível de ser representado ou nomeado em algo possível de ser tocado e apreendido.
No silêncio, a palavra não tem ação. O silêncio é um bloco de gelo que faz escorregar os sentidos. Nada fixa. O silêncio é volátil. Se não digo o que penso, posso mudar de pensamento e perder o fio da meada. Se digo ou escrevo, eu contorno, faço borda, delineio, edito, reedito e construo uma estética dentro de uma poética que marca um tempo.
Ainda no livro de Rebecca Solnit, que citei na abertura deste brevíssimo ensaio, ela escreve:
“O silêncio é o que permite que as pessoas sofram sem remédio, o que permite que as mentiras e hipocrisias cresçam e floresçam, que os crimes passem impunes. Se nossas vozes são aspectos essenciais da nossa humanidade, ser privado de voz é ser desumanizado ou excluído da sua humanidade. E a história do silêncio é central na história das mulheres. (…)
As palavras nos unem e o silêncio nos separa, priva-nos da ajuda, da solidariedade ou da simplesmente comunhão que a fala pode solicitar ou provocar” (SOLNIT, 2017, p. 28).
Do mesmo modo que a obra de arte aponta para o vazio que inaugura a nossa existência, colocando-nos numa experiência de encarar o desamparo e o que nos é intimamente estranho e paradoxalmente familiar, este brevíssimo ensaio me tira do silêncio de suportar solitariamente o vazio que se alargou no espaço do meu corpo. Sofri a morte prematura de uma idealização sobre ser mãe e ter um filho. Perdi um corpo que se preparou para gestar. Ganhei um novo corpo que sangrou litros, mas deixou a vida intacta dentro dele, ainda mais forte, firme na terra das possibilidades. Minhas palavras comungam com os corpos de todas as mulheres que abortaram, por natureza ou escolha.
Rompi o meu silêncio formulando algumas perguntas. Como carregar no espaço do corpo o infinito que cabe entre a minha vida e a minha morte? Qual amadurecimento este sofrimento quer exigir de mim? Como agradecer e aceitar esta morte prematura? Como criar afeto para criar alguma coisa no espaço destinado ao feto?
Carinhosamente apelidamos a nossa sonhada mistura genética de Baby Neny’s. Baby de bebê em inglês, essa mania de internacionalizar o vocabulário brasileiro, e Neny’s de neném, para rimar. Tínhamos pensado em alguns nomes para dar conta da anatomia dos sexos, sonhando a presença da criança fora da barriga.
Baby Neny’s ganhou o primeiro presente da minha mãe: um patinho amarelo e laranja de pelúcia. O patinho já foi parar na nossa cama, entre os travesseiros. Virou nosso bichinho. Na galeria do celular tem foto que fiz do meu companheiro dormindo com o patinho deitado em suas costas. Brinquei no grupo do WhatsApp da família: esse patinho seria uma menina ou um menino? Minha irmã de sete anos disse que seria menina porque ele tinha um laço. Mas a minha mãe “sentia” que eu seria mãe de um garoto. Eu oscilava na minha imaginação. Saída de mim, essa criança poderia ser o que quisesse. Encontrei uma aluna num evento artístico, que veio me parabenizar pela gravidez, e eu fiz graça: disse que a criança nasceria tirando selfie do próprio nascimento. Sou conhecida pelas auto-fotografias antes da invenção da câmera frontal do celular. E como narciso acha feio o que não é espelho, temos este costume ridículo, tão imaginário, de idealizar o nosso legado fetal dando continuidade aos nossos vícios e trejeitos.
Em 11 de agosto, data comemorativa do dia dos pais, quatro dias depois que meus irmãos e minha mãe já haviam publicado a notícia da minha gravidez nas redes sociais, decidi contar aos ventos virtuais que meu pai seria avô e que meu companheiro, que já experimenta a aventura de ser pai de Clarice, minha enteada, seria pai pela segunda vez. O grande tema do churrasco do dia dos pais girou em torno do sexo da criança. Arranjaram de fazer um teste caseiro escondendo garfo e faca embaixo de dois travesseiros e deu que seria menina. Ficamos felizes com essa possibilidade, assim como ficamos igualmente felizes com a possibilidade contrária, caso este teste não passasse de uma invenção supersticiosa para dar conta da ansiedade dos pais.
A data da primeira consulta pré-natal ficou para o dia 16 de agosto, às vésperas do dia em que eu comemoraria 30 anos: em 22 deste mês. Antes da minha festa de aniversário balzaquiana, minha mãe entrou em contato com a mãe do meu companheiro para pensar no Chá de Revelação. Para fugir dos estereótipos preconceituosos da viral “ideologia de gênero”, combinamos que: 1) as cores seriam laranja e amarelo; que 2) nenhuma cor estaria relacionada ao sexo da criança, e que 3) teriam que ser criativas para anunciar o sexo do Baby Neny’s.
A ideia de ser mãe aos 30 anos sempre me soou fantástica. Adorava pensar, e continuo adorando, que quando minha cria fizesse 20 anos eu ainda estaria no auge dos meus cinquenta. A festa do meu aniversário de 30 já pareceu festa de criança. Ganhei muitos presentes para o Baby Neny’s: roupinhas avulsas, macacãozinhos minúsculos, ursinho de ovelha com mantinha, ursinho de abelha com mantinha e também ganhei presentes que convocavam o meu novo corpo de mãe: loção ultra-hidratante com manteiga karité e gotas purificadas de quinoa e duas embalagens de óleo corporal de amêndoas. No registro da festa, saíram aquelas fotos clássicas que focam uma das mãos na barriga da grávida para sinalizar que uma vida ali estava sendo gestada.
No mês de agosto me dei de presente livros sobre arte e psicanálise, criatividade e maternidade. Sobre a última temática – talvez a mais urgente dos meus últimos tempos – encomendei pela amazon o famoso livro de Laura Gutman chamado “A maternidade e o encontro com a própria sombra”, o “Mulheres que correm com os lobos”, da Clarissa Pinkola Estés e não poderia faltar o best-seller indicado por uma das minhas melhores amigas, “O que esperar quando você está esperando”, escrito por médicos e médicas. Neste duradouro e atribulado mês de agosto, também baixei PDF de diários de gravidez pela internet e um aplicativo, pelo celular, que mostrava o desenvolvimento do bebê semana a semana. Pelo aplicativo do mercado livre encomendei um daqueles vestidos de renda que mostram a barriga grávida, sonhando com as fotos que registrariam o crescimento do bebê por dentro da circunferência anatômica. Também neste mesmo e comprido mês, inaugurei o quadro sentimental da culpa maternal: me culpei por ter comido doce na minha festa de aniversário e na comemoração de aniversário de uma amiga, me culpei pela segunda xícara de café em algumas manhãs e pelo sobrepeso corporal que adquiri depois que passei a morar junto com meu companheiro e depois que saí das aulas de Pilates (amanhã retomarei as aulas, inclusive), me culpei pelo meu ritmo insano de trabalho e produtividade, me culpei por não ter me planejado matematicamente no calendário para enfim engravidar. Embora estivesse tudo nos conformes do desejo, de ordem consciente e inconsciente (apontou meu analista), ainda faltava uns ajustes aqui e ali, na casa, na utópica harmonia do casal, no orçamento mensal, nesses tipos de coisas que costumeiramente idealizamos controlar e que PUMBA! Acontece de modo inédito e singular pelo simples fato de se estar viva (o).
No início de setembro, chegou o dia do primeiro ultrassom. Fomos eu, meu companheiro e minha mãe para o laboratório. Era uma segunda-feira, perto do horário do almoço. A burocracia da guia do convênio fez com que ficássemos plantados por mais de uma hora na sala de espera. Inúmeros sentimentos sem nome me tomavam pelo corpo todo. Conseguiríamos ver o bebê pelo aparelho de imagens? Escutaríamos os batimentos do seu coração? A médica confirmaria a gravidez, dizendo que o bebê estava ali, que ele não havia saído pelo xixi? Ninguém escapa das fantasias infantis nesta hora de medo, angústia e ansiedade.
Na sala, com o transvaginal onde se deve estar, a médica perguntou qual teria sido o dia da minha última menstruação para fazer o cálculo das semanas. Pela média do tempo de gestação, esperava-se que o embrião já aparecesse dentro do saco gestacional. Ela me mostrou o colo do útero fechado, tudo ok, o saco gestacional bem posicionado, tudo ok, o corpo lúteo, tudo ok. Depois, a médica me perguntou: “você está vendo alguma coisa dentro do saco gestacional?” Eu disse que não. Fiquei incomodada com esta pergunta. Por que ela queria saber o que eu estava vendo? Depois que eu respondi, ela repetiu que também não estava vendo o embrião dentro do saco gestacional. Uma angústia sem nome travou a garganta. Então, depois de um pequeno silêncio, ela informou as possibilidades diagnósticas: poderia ser precocidade gestacional (por conta de uma possível ovulação tardia ou mesmo por conta de erro na contagem a partir da última menstruação) ou gravidez anembrionária. Quando ela pronunciou esta palavra a.nem.bri.o.ná.ria eu imaginei tudo, menos o que verdadeiramente significava: uma gravidez sem embrião.
Perguntei algumas coisas das quais não me recordo, fechei meu semblante, olhei assustada para minha mãe e para meu companheiro. A médica disse que não dava para confirmar se seria mesmo uma gravidez anembrionária, que eu deveria esperar o próximo ultrassom. Emudeci. Saí da sala desconcertada e desconfiadíssima. A próxima consulta estava agendada para dali alguns dias. Neste dia, eu havia me programado para sair do exame, almoçar e ir direto para o consultório. Minha agenda, naquela segunda-feira, iria até às sete e meia da noite. Durante o meu almoço, falei com uma amiga sobre o que tinha acontecido. Ela fez o acompanhamento da gravidez dela com o mesmo obstetra que o meu. Pedi para ela me passar o número dele. Consegui contato. Ele estava com o horário disponível. Comentei com o meu companheiro que não aguentaria esperar, que eu teria que desmarcar os pacientes daquele dia para me consultar com o médico. Ele tentou me tranquilizar, dizendo para não sofrer por antecipação. Sem chance, eu já estava incomodadíssima com o tom e a cadência seca da voz da médica ecoando pensamento adentro.
Chegamos no obstetra. Explicamos os fatos. Nas primeiras falas, ele cometeu um ato falho que denunciou o que ele estava previamente pensando, antes dos resultados dos exames. Não me lembro exatamente que palavra ou verbo usou, mas a mensagem que eu fisguei foi a de que eu não estaria mais grávida. Eu comuniquei que ouvi o ato falho, ele entendeu que eu o havia analisado em seu discurso. Mesmo com a mensagem decodificada, ele disse que para ter certeza do diagnóstico eu deveria fazer dois testes do beta HCG quantitativo no intervalo de dois dias. Caso o resultado dos exames apontasse para um aumento no nível do beta HCG, era sinal de que a gravidez estaria se desenvolvendo normalmente. Caso contrário, seria mais um indicativo de gravidez anembrionária. Meu companheiro e eu, mais ou menos neste momento da consulta, choramos. Ele continuou que para termos uma confirmação do diagnóstico, eu deveria agendar um ultrassom para dali a dez dias. Saí dali arrasada, doída, doida, preocupada, mas esperançosa. Meu companheiro continuava sustentando uma pose de segurança, me dizendo para não sofrer por antecipação. Contudo, no meu âmago, algo dizia que uma onda de sofrimento iria me derrubar com uma notícia que eu nunca imaginei um dia receber.
Quatro dias depois de não ter visto o nosso embrião dentro do saco gestacional, meu companheiro e eu nos encontrávamos na estrada, a caminho da primeira palestra internacional que eu daria, no curso de Medicina de uma faculdade em Pedro Juan Caballero – Paraguai. A vida nunca pode parar, embora a vida seja feita de incontáveis lutos e sustentada pela iminência da morte, a nossa própria e a dos nossos próximos.
No movimento dos pneus girando em velocidade, eu contei para o meu companheiro que naquela manhã havia tomado banho ouvindo “Beautiful boy”, música que John Lennon fez para seu filho Sean, e comentei com ele que esta música, disparando na sequência “I’ve just seen a face”, dos Beatles, havia me feito sentir esperança de que o melhor aconteceria. Coloquei Beautiful Boy para tocar. Escutamos duas vezes. Na primeira, tentei fazer uma tradução simultânea da letra: “Close your eyes/ Have no fear/ The monster’s gone/ He’s on the run and you daddy’s here/ Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy/ Before you go sleep/ Say a little prayer/ Every day in every way/ It’s getting better and better/ Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy/ Out on the ocean sailing away/ I can hardly wait/ To see you come of age/ But I guess we’ll both just have to be pacient/ ‘Çause it’s a long way to go/ But in the meantime/ Before you cross the street/ Take my hand/ Life is what happens to you/ While you’re busy making other plans/ Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy”. No repeat da canção, choramos. Dei play em I’ve just seen a face, dancei um pouco com o tronco e as mãos, respirei fundo e me pus a esperar o tempo que leva a vida passar.
Antes da data em que tive a hemorragia do aborto, eu já havia pensando num símbolo para esta primeira gravidez: um ovo do amor, para contradizer o nome “ovo cego”. Pedi para um tatuador desenhar um coração celta, que representa a maternidade, dentro de um formato de círculo oval. Ele enviou a ilustração enquanto estávamos no hospital, aguardando o retorno do médico, para confirmação – ou não – da gravidez anembrionária.
Numa quinta-feira, véspera da sexta-feira 13 de Setembro, recebemos a confirmação: não havia embrião dentro do saco gestacional. Deram-nos duas opções: aguardar o corpo expelir o saco gestacional com todo o aparato da gravidez, sangrando aos poucos, por semanas ou por um mês, dois, ou agendar o procedimento cirúrgico da curetagem. Eu cogitei esperar pelo processo natural do corpo, mas meu companheiro, conhecendo a minha sensibilidade, antecipou-se dizendo que seria mais recomendável que eu me preparasse para o adeus do meu corpo grávido com data, local e dia da semana. Concordei. Até porque a vida é o que acontece enquanto estamos fazendo planos e nem sequer passou pela minha cabeça pausar a minha agenda profissional. Não sei se workaholic ou imensamente ancorada à posição de analista por também estar em análise desde os meus 20 anos, o meu trabalho significantiza um grande pedaço da minha existência. Assim, agendamos o procedimento para a próxima terça-feira. Contudo, um dia depois, já comecei a sangrar em intenso fluxo, a sentir dores pélvicas e contrações. No sábado acordei em angústia. Pedi ao meu companheiro que comprasse buscopan porque eu já não tinha mais posição na cama nem no meu corpo. A cada gota, sentia que eu estava me dobrando do avesso.
Banheiro, sangue, chuveiro, sangue, absorvente, sangue, nada mais continha a hemorragia. Envolvi meu corpo num lençol impermeável, deitei no banco de trás do carro e o meu companheiro me levou ao hospital. Acionei quem da família pudesse estar ali e comuniquei aos pacientes que não poderia me fazer escuta naquele dia. Minha mãe estava em viagem, meu pai com minha irmã caçula, um dos meus irmãos estava participando de um evento e o outro se fez presente quando soube da notícia. Meu companheiro esteve sempre ali, fazendo o esforço que podia para suportar o meu silêncio, as minhas oscilações de humor e o meu espanto. Quem estava de fora, poderia considerar que eu estivesse sendo guerreira, consciente e forte. Eu, que estava dentro de mim, também estava me olhando de fora: me sentia guerreira, consciente e forte.
Hoje, passados dois meses do ocorrido, abrindo e fechando este arquivo do word, ensaiando o luto em parágrafos lentamente gestados, começo a olhar para dentro de mim para permitir que eu mesma renasça após a morte de meu corpo grávido. Ocupo o silêncio com a escrita que possibilita que eu documente a minha vida interior e a minha verdade de ser uma mulher no mundo. Nunca fui quem estou sendo agora, encarando a dor solitária que é ter sido mãe por nove semanas. Embora o embrião não estivesse em desenvolvimento para se tornar um feto deste o início da gestação, o que somente foi confirmado a posteriori, há afeto de mãe.
Muitos que souberam, enunciaram: Deus sabe o que faz. Uma das minhas melhores amigas disse: o corpo sabe o que faz. Outra da mesma categoria brilhantemente me esclareceu: a gravidez é tão misteriosa que o inacreditável é a criança perseverar até o nascimento. Os que menos souberam me acalentar foram os que quiseram cortar o mal pela raiz: logo vem outro, como se o sonho de uma vida pudesse ser substituído. Como se ali não houvesse uma morte para ser enlutada. A maioria nada disse, ou até simbolicamente encobriu o susto com a frase: estou sem palavras. O que eu pude finalmente me dar conta, depois de uma hemorragia de lágrimas, é que estar vivo é de um imenso esplendor. Qualquer criatura que vive é fruto de uma grandiosa vitória e de um imenso desejo, dia após dia, semana a semana, de mês a mês, ano a ano, até que a morte conte o tempo e determine o fim ou os recomeços.
Minha gravidez durou 9 semanas. Finalmente entrei em prantos no dia seguinte da curetagem, e pensei: esta morte me escancarou o perigo de estar viva e, mais ainda, justamente por continuar viva, esta morte está me proporcionando o trabalho de renascer numa nova configuração de corpo.
No dia 17 de setembro, meu companheiro e eu tatuamos o “ovo de amor” no braço esquerdo. Era urgente a marca exposta no corpo, era urgente rasgar a pele para cicatrizar a dor sem nome.
Hoje, domingo do dia 17 de Novembro, me despeço deste brevíssimo ensaio sobre a minha vida de mulher, em que conto – com exagero de detalhes – os fatos reais e sensíveis que envolveram o episódio do aborto natural que tive em 14 de Setembro. Novamente com a autora Solnit, convido à reflexão:
“A tarefa de chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, de contar a verdade da melhor forma possível, de saber como chegamos aqui, de ouvir especialmente os que foram silenciados no passado, de ver como as inúmeras histórias se encaixam e se separam, de usar qualquer privilégio que possamos ter recebido para acabar com os privilégios ou para ampliar seu escopo, tudo isso é tarefa nossa. É assim que construímos o mundo” (SOLNIT, 2017, p. 83).
Saio deste texto com a declarada convicção de que a escrita me salva e contorna a minha existência, de que o amor é a aposta que menos desaponta, de que tive a coragem de me enfrentar para enfim aceitar que toda esta história integra a verdade que me foi dada ter, sentir e viver, e de que – enquanto há vida – é preciso encontrar palavras ou meios simbólicos para rasgar silêncios, não-ditos e dores sem nome.
Rebecca Loise De Lucia Freire é psicóloga clínica, psicanalista, supervisora clínica e palestrante. Mestra em Psicologia Social pela PUC-SP e estudante de Artes Cênicas pela UFGD. Atriz, bailarina e escritora. Atende em consultório particular em Dourados-MS. Contato: @rebeccafreire.psi/ [email protected]