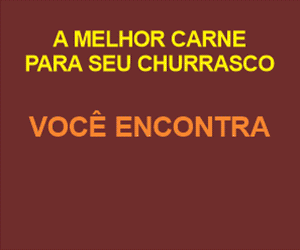Wilson Matos da Silva (*) –
Minha indignação é justa. Minha escrita é potente. E minha dor — que também é memória — não é só minha: é coletiva, é resistência. Há 15 anos, em artigo publicado pelo Instituto Socioambiental (ISA), alertei para a guerra silenciosa travada contra os povos indígenas no Brasil. Hoje, em 2025, releio aquelas palavras com tristeza profunda: nada mudou. Pior — a violência se sofisticou, mascarada por discursos de modernidade, mas movida pelas mesmas intenções antigas.
Reafirmo, como advogado, ativista e indígena que vive na pele o descaso: nossa luta não é caso de polícia, nem disputa agrária. É uma batalha histórica por reparação, justiça e pelo cumprimento da Constituição.
A campanha contra nossos direitos ganhou novas armas. Políticos oportunistas, bancadas ruralistas e mineradoras agora se aliam a influenciadores digitais e algoritmos de desinformação para propagar as narrativas do “conflito iminente” e da “ameaça à economia”. Acusam-nos de travar o progresso — enquanto nossas crianças morrem de desnutrição e nossos rios são envenenados pelo garimpo ilegal.
Não temos armas. Nossa trincheira é a memória dos nossos ancestrais, a oralidade viva, a resistência cultural. Contra nós, se ergue um aparato estatal omisso, milícias privadas e uma sociedade que, em boa parte, ainda nos enxerga como estorvo.
Um exemplo recente das estratégias de contenção e domesticação dos direitos originários pode ser visto na realização, durante a Expoagro 2025, em Dourados, está previsto uma palestra intitulada “Conflitos agrários em áreas de interesse indígena: possibilidades de acordo e indenização após o julgamento do caso do Marco Temporal”. O evento, voltado a produtores rurais, operadores do Direito e autoridades locais, será ministrado por um colega advogado que representa proprietários da região e propõe “soluções viáveis” após a decisão do Supremo Tribunal Federal que afastou a tese do marco temporal.
Trata-se de iniciativa que, embora revestida de boa técnica e voltada ao diálogo institucional, exige vigilância crítica. Nenhuma proposta de conciliação poderá prescindir do reconhecimento da origem histórica dos conflitos e da centralidade dos direitos originários indígenas, expressos no artigo 231 da Constituição e reiterados no julgamento da ADI 3239. Mas é preciso dizer com clareza: não se pode chamar de “acordo” aquilo que desconsidera o esbulho histórico, nem de “solução viável” aquilo que continua a nos excluir, é necessário ouvir o nosso lado.
Estamos em guerra há mais de 500 anos — uma guerra assimétrica, feita de mortes invisibilizadas. Em 2023, o Conselho Indigenista Missionário (CIMI) registrou 208 assassinatos de indígenas, muitos ligados a conflitos por terra. Em 2024, o número de invasões a terras indígenas cresceu 20%. Suicídios entre jovens, fome, alcoolismo, racismo estrutural, encarceramento e a ausência de saúde básica continuam ceifando vidas. No Mato Grosso do Sul, os Povos Indígenas seguem confinados em acampamentos à beira de rodovias, enquanto fazendeiros ocupam terras que a Constituição já reconhece como nossas.
O artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) — que determinava a demarcação de todas as terras indígenas até 1993 — segue sendo solenemente ignorado. Mais de 700 processos permanecem paralisados, segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). Enquanto isso, o Congresso empurra projetos como o PL 490/2007, sustentando a tese do “marco temporal” — uma aberração jurídica que tenta apagar séculos de esbulho e sofrimento.
Em 1988, ao lado de lideranças como Ailton Krenak, Joenia Wapichana e Marcos Terena, Escrawen Sompré, Azelene Kaigague e tantos outros, lutamos para fazer inserir nossos direitos na Constituição Federal. Em 2007, como membro da Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI), e em 2008, no Grupo de Trabalho da OAB Federal, enfrentei as tentativas do Estado de construir uma jurisprudência de exceção contra os povos originários.
A narrativa do “confronto” é uma farsa. Falar em guerra armada pressupõe que tenhamos armas — mas nossa única arma é a dignidade. O verdadeiro embate é espiritual e moral: de um lado, a memória viva de nossos ancestrais; de outro, a ganância de quem lucra com nosso extermínio.
Nas aldeias, a realidade é de abandono: crianças sem escola, jovens sem perspectiva, saúde ausente. Em 2024, a Organização Pan-Americana da Saúde alertou para a crise de saúde mental entre indígenas no Brasil, com índices de suicídio até cinco vezes superiores à média nacional. Quantos mais precisam morrer para que o Brasil reconheça o genocídio em curso?
A omissão do Estado é criminosa. A Funai, enfraquecida, opera sem recursos e sem autonomia. As políticas públicas, quando existem, são desenhadas por burocratas distantes, que desconhecem nossos modos de vida. À sociedade brasileira, faço um apelo: não se deixem enganar pelos que lucram com nossa dor. A demarcação não é favor — é dívida histórica. Enquanto crianças indígenas padecem à beira das estradas, enquanto as florestas queimam e os rios morrem, a história cobra de todos nós.
(*) É Indígena, Advogado Criminalista OAB/MS 10.689, especialista em Direito Constitucional, é Jornalista DRT 773MS. residente na Aldeia Jaguapiru – Dourados MS. [email protected]