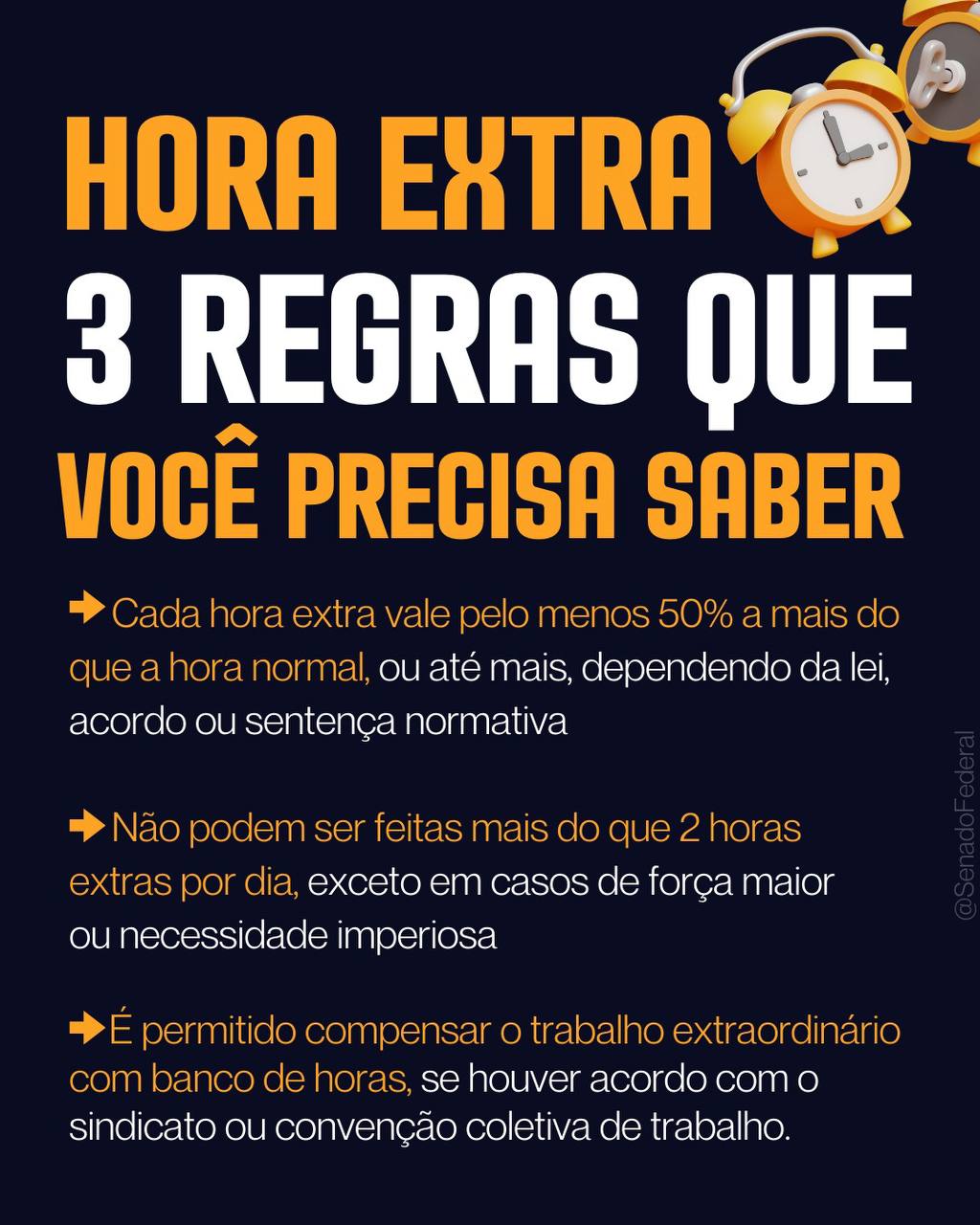Pedro Machado Mastrobuono – Presidente da Fundação Memorial da América Latina (*)
Segundo a ensaísta Ana Maria Bernardelli, o texto de Pedro M. Mastrobuono lembra que o Holocausto não começa no extermínio, mas na palavra que desumaniza, no rótulo que apaga a identidade e na inverdade que prepara o terreno da violência. Ao cruzar memória histórica, ética e tradição religiosa, o autor denuncia a falácia de uma civilização que se legitima negando o outro. A lembrança, aqui, deixa de ser ritual e se torna vigilância moral. Não para cultuar a dor, mas para impedir que ela volte a ser método.
27 de janeiro não é apenas uma data, é um método de vigilância moral. A Organização das Nações Unidas escolheu esse dia como referência anual para a memória das vítimas do Holocausto, por meio da Resolução 60/7, adotada em 1º de novembro de 2005, vinculando a lembrança à educação e ao combate às formas de negação e intolerância. A escolha também se conecta, na consciência pública internacional, à libertação de Auschwitz Birkenau, não como metáfora, mas como marco histórico que obriga a humanidade a olhar de frente para aquilo que ela pode produzir quando decide dissolver pessoas em categorias, e categorias em números.
Há quem imagine que genocídios começam pelo ato final, pelo tiro, pela cerca, pela câmara de gás. A história, porém, insiste em outro roteiro, o da lenta engenharia da desumanização. Antes da máquina, vem a frase. Antes do campo, vem a caricatura. Antes do extermínio, vem a insistência em negar ao outro o direito de pertencer à espécie humana, ou, de modo mais sofisticado, negar-lhe o direito de pertencer a si mesmo, como se identidade fosse um acessório negociável, e não uma continuidade histórica, cultural e espiritual.

É nesse ponto que as tradições abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, oferecem um terreno comum para reflexão, mesmo quando o texto que se escreve não pretende ser confessional. As três afirmam a ideia de um D’us único, eterno, onisciente e onipresente. A consequência filosófica dessa premissa é decisiva. O ser humano nasce e aprende, acumula experiências, revê escolhas, muda de opinião, admite o erro, amadurece. A vida humana é, por definição, uma pedagogia do tempo. A ideia de D’us, ao contrário, quando tratada com consistência, não comporta a gramática da aprendizagem. Um D’us eterno não “descobre” o que não sabia, um D’us onisciente não se surpreende, um D’us absoluto não precisa corrigir o próprio caminho. Arrependimento é humano, não divino.
Maimônides, o grande pensador judeu medieval, condensou essa diferença com uma formulação que atravessou séculos. Seu nome completo, em hebraico, é Moshe ben Maimon, conhecido também pelo acrônimo Rambam, e sua trajetória é a de um intelectual total, rabino, jurista e médico, nascido em Córdoba, no século XII, e falecido no Egito no início do século XIII. Em textos de sua tradição, ele afirma, em síntese, que D’us é, ao mesmo tempo, o conhecedor, o conhecimento e o conhecido, uma unidade que rompe a separação que existe em nós entre quem sabe e aquilo que é sabido. Se a ideia parece abstrata, sua consequência é concreta. Enquanto o homem possui conhecimento, D’us, na linguagem filosófica de Maimônides, é o próprio conhecimento, sem acréscimo, sem falta, sem sucessão.
A partir daí, uma pergunta se impõe, e ela não é apenas teológica, é antropológica, histórica, ética. Se D’us não muda como mudamos, como se pode atribuir a Ele a leveza humana de revogar promessas, trocar alianças, substituir um povo por outro como quem troca de casa, de nome, de conveniência. Numa imagem simples, e por isso mesmo poderosa, qualquer sociedade reconhece a gravidade de um homem que promete fidelidade, estabelece um pacto, constrói uma vida, e depois abandona a promessa para se unir a outra companheira porque a juventude lhe parece mais atraente, ou porque o mundo lhe ofereceu novas vantagens. Mesmo quando a cultura relativiza, a consciência acusa. Se esse gesto é censurável no plano humano, como projetá-lo sobre a ideia de um D’us absoluto sem reduzir o monoteísmo a uma mitologia travestida, onde divindades agem por capricho, ciúme e troca.
Essa reflexão importa porque, no debate público contemporâneo, há um movimento persistente de distorção que opera em duas frentes, e é precisamente essa duplicidade que torna o fenômeno tão eficiente. Quando convém a certa retórica de ódio, o judeu é descolado de sua própria história, como se o judeu de hoje nada tivesse a ver com o judeu de ontem, como se a identidade judaica fosse uma peça de museu sem continuidade, um fragmento conveniente de ser negado. Quando convém à necessidade de demonizar, o judeu volta a ser o mesmo de sempre, o mesmo desde o começo dos tempos, agora não para ser reconhecido, mas para ser culpabilizado. Negação seletiva, afirmação seletiva, conforme a conveniência do discurso.
É nesse ponto que uma passagem antiga retorna como espelho incômodo. No final do Deuteronômio, há um verso que diz, em linhas gerais, que os inimigos de Israel “serão encontrados mentirosos” diante dele, e que Israel “pisará sobre os seus lugares altos”. O texto, em sua camada bíblica, fala de vitória, mas há uma camada simbólica que ressoa de modo particular quando a história moderna mostra quantas vezes a mentira foi usada como instrumento de perseguição. “Ser encontrados mentirosos” não é apenas perder uma batalha, é ter desmascarada a narrativa. E talvez seja isso que a memória do Holocausto exige de nós hoje, que não nos limitemos à liturgia da lembrança, mas que enfrentemos, com serenidade e firmeza, as mentiras que preparam o terreno para que o horror volte a parecer possível.
A Torá, anterior às tradições que dela derivaram, preserva não apenas histórias, mas a gramática da promessa, a ideia de aliança como eixo do tempo. E é notável que personagens como Moisés, e cenas como o encontro do profeta com D’us, sejam retomadas em textos posteriores do universo abraâmico, o que demonstra uma continuidade de referência, ainda que as interpretações diverjam. O paradoxo é que, em certos momentos, o discurso que pretende negar a identidade judaica se apoia, sem perceber, na própria herança que recebeu desse tronco. Quando se tenta reescrever a história para deslocar os vínculos evidentes, como ao retirar Jesus do seu contexto judaico, produz-se uma incoerência histórica elementar. A afirmação pode ser debatida em teologia, mas em história ela exige honestidade documental. Não se trata de fé, trata-se de consistência.
O Holocausto foi o laboratório extremo de uma ideia, a de que é possível reduzir o humano a matéria administrável. Primeiro se separa, depois se classifica, depois se rotula, depois se desumaniza, por fim se elimina. A lógica é antiga, o método se atualiza. E é por isso que 27 de janeiro não deve ser lembrado como um capítulo fechado, mas como um alerta sobre o funcionamento das sociedades quando a linguagem perde o freio moral, e quando a política passa a exigir, para se afirmar, a anulação do outro.
Há uma pergunta que atravessa os séculos, da Inquisição aos totalitarismos modernos, das perseguições explícitas às formas sutis de apagamento. Que ideia de D’us, ou que ideia de civilização, precisa eliminar o anterior para legitimar o próprio lugar. Que tipo de monoteísmo se sustenta por substituição, como se a fidelidade divina fosse uma mercadoria. Que ética é essa que, para existir, exige negar ao outro o direito de ser quem é.
A memória do Holocausto, quando honesta, nos obriga a uma conclusão difícil e, ao mesmo tempo, luminosa. A história, seja lida por um judeu religioso, por um judeu secular, ou por alguém inteiramente cético, mostra que o povo judeu se sobressai quando assume sua identidade, quando não aceita a mentira como destino, quando não permite que o outro defina o seu nome. E talvez seja esse o sentido mais profundo da lembrança, não o culto da dor, mas a recusa de que a dor se torne método.
Lembrar é impedir que a desumanização volte a parecer aceitável. Lembrar é insistir, contra a mentira, que pessoas não são números. Lembrar é proteger a dignidade humana no ponto em que ela costuma ser violada primeiro, na palavra, no rótulo, na caricatura, na negação do vínculo, na tentativa de apagar uma história para tornar possível uma violência.
A memória, neste 27 de janeiro, é uma forma de vigília. Não para aprisionar o passado, mas para impedir que ele retorne com outro nome.
(*) Pedro Machado Mastrobuono é presidente da Fundação Memorial da América Latina, pós-doutor em Antropologia Social e foi agraciado com a Comenda Câmara Cascudo do Senado Federal por sua trajetória na proteção ao patrimônio cultural nacional. É também doutor honoris causa da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul;