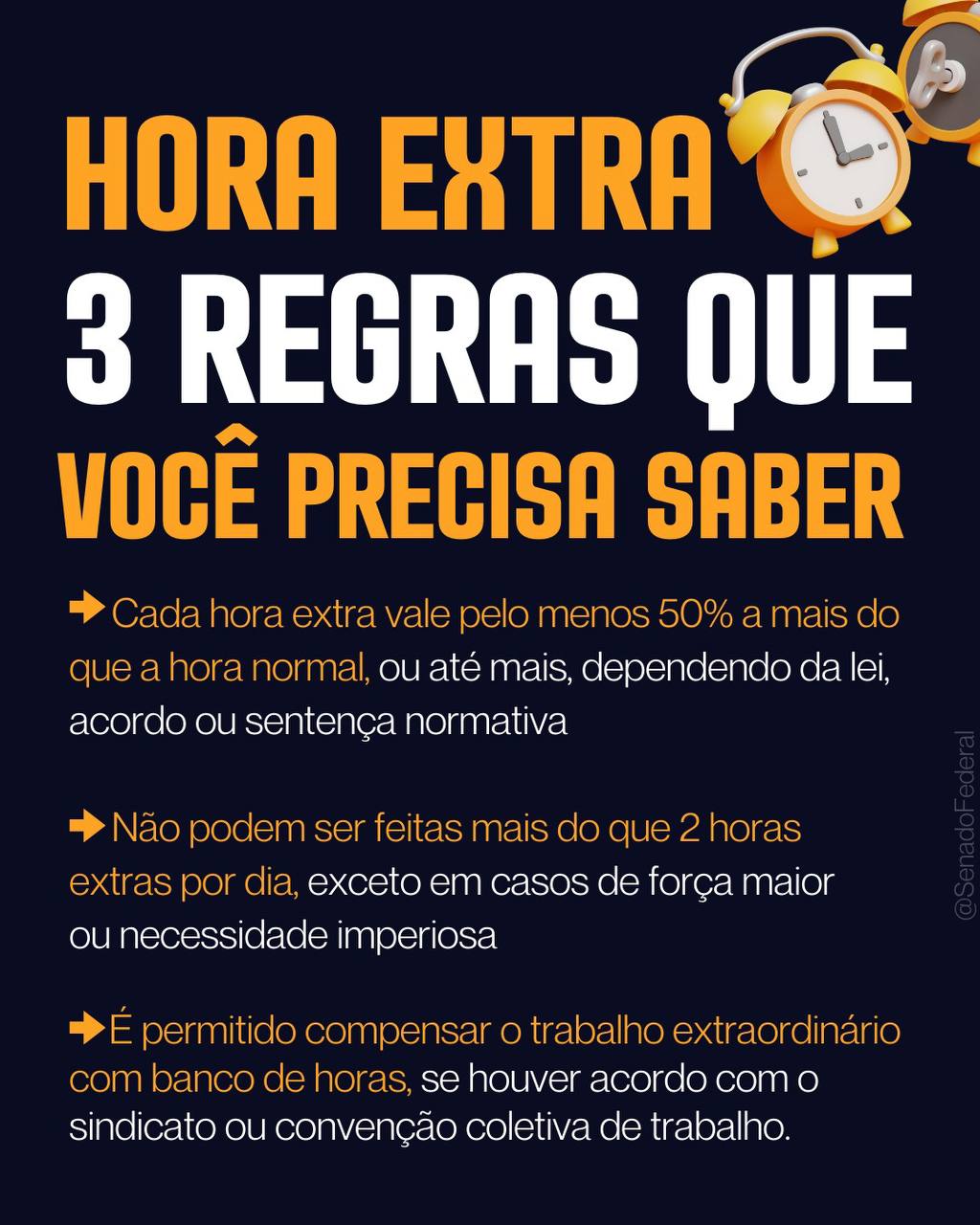Bosco Martins – é jornalista e escritor –
Em “O Agente Secreto”, escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026, Kleber Mendonça Filho subverte a noção de desfecho. O filme provoca a incômoda sensação de “já acabou?”, usando-a como ferramenta política e poética.
Ambientado no Recife de 1977, o longa retrata os anos de chumbo com uma narrativa que mistura suspense e melancolia. Diferente de obras que mostram a ditadura como vilão explícito, aqui o regime é uma força difusa, um pano de fundo que envenena o cotidiano.
Wagner Moura vive Marcelo, um ex-professor foragido. O título é a primeira provocação: ele não é um espião, mas um “agente secreto” de si mesmo. A trama se desenrola numa pensão que abriga dissidentes, enquanto Marcelo busca um documento no Instituto de Identificação – ironia cruel para quem tenta apagar suas pegadas.
A tensão culmina em um tiroteio, mas a reviravolta está na elipse. A história salta décadas, para o presente, onde pesquisadoras reconstroem a trajetória de Marcelo a partir de arquivos. Sua morte é uma nota de rodapé: revelada friamente por um recorte de jornal. A violência do Estado é exposta pelo apagamento burocrático.
O último ato é um golpe melancólico. Uma pesquisadora encontra Fernando, o filho de Marcelo, agora um médico adulto. O encontro ocorre em um centro de doação de sangue, no mesmo prédio de um antigo cinema – uma metáfora poderosa para um país que tenta estancar suas feridas. Quando ela entrega a Fernando um pen drive com a história de seu pai, ele hesita. Suas palavras – “ele nunca apareceu para me buscar” – ecoam como a verdadeira tragédia: a ditadura roubou futuros e memórias.
Kleber confessou que tentou um final convencional e falhou. Sua opção por um desfecho que privilegia a documentação sobre a dramatização é a essência do filme. O “já acabou?” do espectador é o eco de uma pergunta que o Brasil ainda precisa responder.