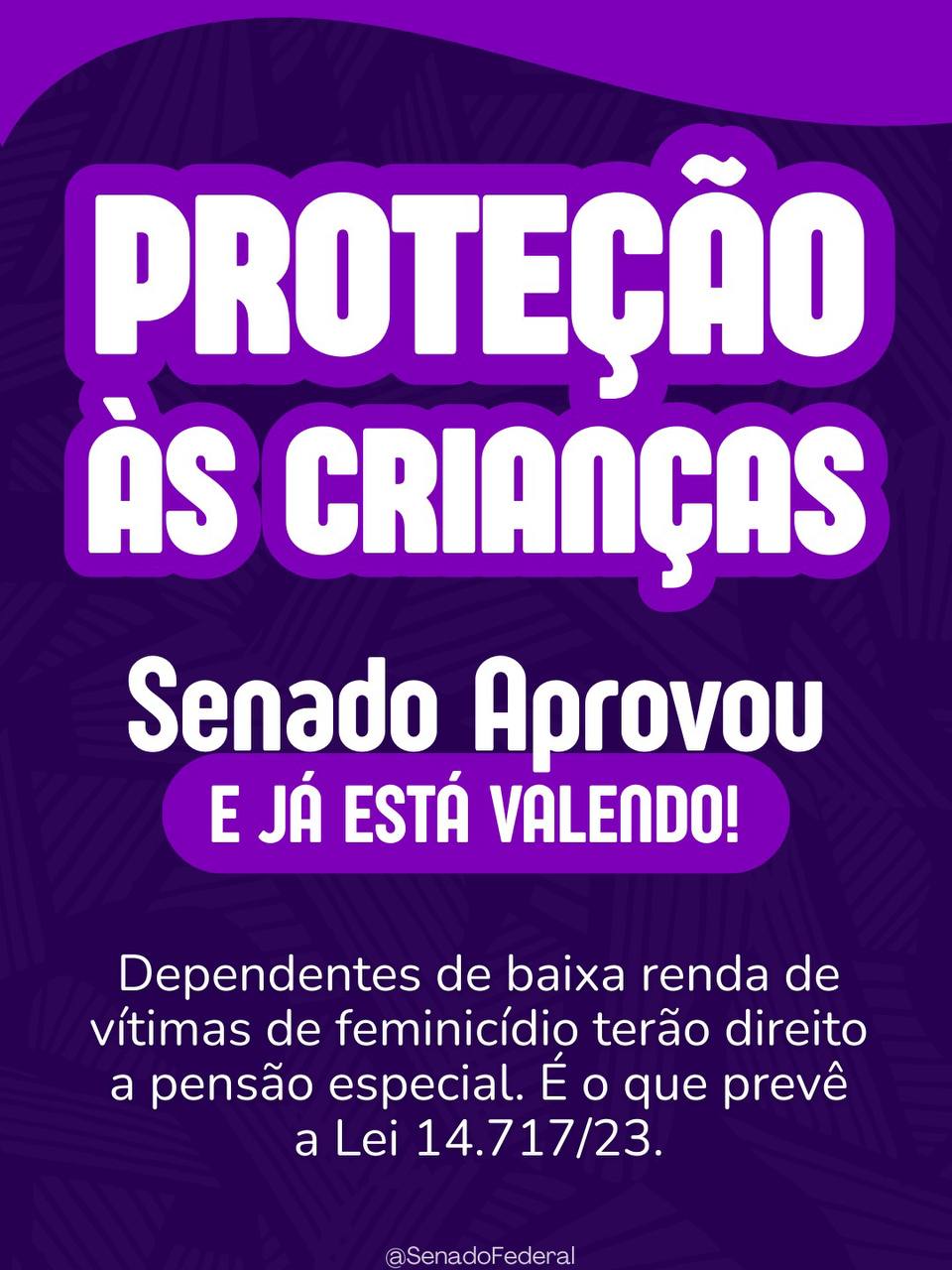Abrão Razuk – Advogado e ex-juiz de Direito em MS
O ilustre civilista Clóvis Beviláqua, autor do Código Civil de 1916, em seus comentários sobre esse substancioso código, expôs as três teorias existentes acerca da posse: a teoria subjetiva, a teoria objetiva e a teoria sociológica.
O Código Civil atual, fruto da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, manteve incólume a mesma estrutura doutrinária e legal da posse. Nosso Código Civil adotou a teoria objetiva de Ihering, pois não trouxe como requisito para a configuração da posse a apreensão física da coisa ou a vontade de ser o dono dela.
Para Rudolf von Ihering, a posse é a exteriorização de um ou alguns dos poderes inerentes à propriedade. Ou seja, é a forma como a propriedade se manifesta no mundo exterior, através do exercício de atos que demonstram domínio sobre a coisa. Ihering desenvolveu a teoria objetiva da posse, que se diferencia da teoria subjetiva de Savigny. Enquanto Savigny exigia a intenção de ter a coisa como própria (animus), Ihering considera que a posse se configura pela simples prática de atos que exteriorizam o domínio, independentemente da intenção do possuidor.
Em resumo, a posse para Ihering é:
- Exteriorização da propriedade
- Ato objetivo
- Visibilidade de domínio
- Base para proteção jurídica
O Código Civil brasileiro, em seu artigo 1196, adotou a teoria objetiva de Ihering, ao definir possuidor como “todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”.
Para Pontes de Miranda, “a posse é a situação de fato em que alguém exerce um poder sobre uma coisa, como se fosse o proprietário, independentemente de ter ou não o direito formal sobre ela”.
Já para Savigny, a posse é definida pela combinação de dois elementos: o corpus e o animus. O corpus refere-se ao poder físico ou controle material sobre a coisa, enquanto o animus representa a intenção de possuir a coisa como se fosse dono, ou seja, o ânimo de ser proprietário.
Para Raymond Saleilles, a posse é a atividade econômica realizada pelo possuidor.
Na teoria sociológica da posse, defendida por Raymond Saleilles e Silvio Perozzi, a posse é definida quando a sociedade atribui ao possuidor o exercício de fato. Ocorre, na prática, como ferramenta para solucionar e reaver o bem de vida.
No caso de disputa judicial, o operador do direito, ao examinar o caso concreto, deve ter conhecimento das teorias existentes sobre a posse.
Sobre o esbulho possessório
Ocorre o esbulho possessório quando há a perda total da posse de um bem, seja ele móvel ou imóvel.
- Posse direta: É a posse exercida por quem tem a coisa sob sua guarda imediata, como o locatário de um imóvel ou o comodatário de um bem.
- Posse indireta: É a posse exercida por quem, embora não tendo contato físico com a coisa, a possui como direito, como o proprietário que aluga seu imóvel.
Sobre o detentor
O Código Civil brasileiro, em seu artigo 1198, reza que “considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas”.
Quando o possuidor age ilicitamente e de má-fé, invadindo a posse do imóvel de alguém e causando a perda total dela, cabe a ação de reintegração de posse em razão do esbulho. Saliente-se que, se esse esbulho tiver ocorrido há menos de ano e dia, o autor pode requerer liminar, desde que demonstre em sua petição na ação possessória o fumus boni iuris e o periculum in mora, ou seja, desde que haja prova pré-constituída: a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
Se houver turbação da posse, por exemplo, quando alguém viola o cadeado da porteira de uma fazenda, ameaçando a entrada na posse do autor, sem, no entanto, causar a perda total do bem, configura-se turbação. A turbação é uma interferência parcial na posse.
Em termos jurídicos, esbulho e turbação são formas de violação da posse, mas com níveis diferentes de gravidade.
- Na turbação, cabe a ação de manutenção da posse.
- No esbulho, cabe a reintegração de posse.
Ambas admitem liminar initio litis e, em ambas, o juiz pode aplicar o princípio da fungibilidade das ações possessórias.
Se houver mera ameaça, ou seja, quando o invasor ameaça invadir a posse com atos inequívocos, é cabível o interdito proibitório.
Sobre a imissão na posse
A imissão na posse refere-se ao ato de entrar na posse de um bem, direito ou propriedade, geralmente após uma decisão judicial procedente ou acordo entre as partes.
Exemplos:
- Um arrematante em um leilão judicial, que arremata o bem cujo praceamento está devidamente formalizado de acordo com o Código de Processo Civil, tem direito à imissão na posse do imóvel arrematado.
- Alguém adquire um imóvel de terceiros, mas o vendedor ou ocupante não o desocupa.
Curiosamente, o juiz de direito pode se valer do princípio da fungibilidade nas ações possessórias. Por exemplo, o autor, em vez de ingressar com a ação de reintegração de posse na hipótese de esbulho, nomina a ação como manutenção de posse. O juiz, então, recebe a inicial e a processa como reintegração de posse, com fundamento em outros princípios processuais, como o da celeridade e da economia processual.
Segundo Mauro Cappelletti, “processo é instrumento de realização da justiça”.
Campo Grande, MS, 9 de julho de 2025
E-mail: [email protected]