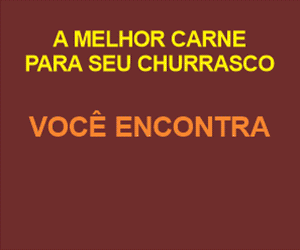Crônica – 26/01/2010
O dicionário subjetivo da minha adolescência, por Rebecca Loise; na foto, Clarice Lispector
Fui ao Museu da Língua Portuguesa para ver a exposição Clarice Lispector A Hora da Estrela, com a curadoria de Júlia Pelegrino e Ferreira Gullar, no dia em que completei os meus 18 anos: 22 de Agosto de 2007 data que marcava no calendário o meu 4º dia morando na paulicéia desvairada e os quatro anos, aproximadamente, de contato com a literatura clariceana. Conheci Clarice devido a uma poesia que escrevi aos 15 anos para um garoto de quem eu gostava. Por ser uma das alunas mais interessadas pela matéria de literatura na turma do colégio, acabava sempre por trocar figurinhas com os meus professores. Dalva, a professora de literatura do meu 2º ano do Ensino Médio, gostava das minhas redações e me incentivava a escrita tanto quanto a leitura. Foi então que, depois de ler a minha poesia de paixão exaltada, Dalva me perguntou se eu já havia lido Clarice Lispector, dizendo que eu escrevia com um ar intimista que fazia com que se lembrasse dos romances/contos introspectivos da pós-modernista. E aí li todos os livros que tinha de Clarice na estante da biblioteca da escola.
Foi amor à primeira lida. Lia durante a aula de física, antes do ballet, de madrugada, lia para as minhas amigas com uma indignação feliz: como alguém podia descrever de modo tão simples o complicado que é sentir? Foi grande o impacto. Eu sentia que ela era como uma mãe morta, que se comunicava comigo através dos livros. Ela foi o dicionário subjetivo da minha adolescência. Com mãos delicadas e leves, Clarice foi me apontando um mundo tão espantosamente real e me conduzindo à dança da liberdade de ser. Atingi intimidade com o que se passava atrás do meu pensamento. Depois de Clarice, passei a escrever contos além de poesias livres. Eu colecionava matérias de jornais e revistas sobre a Deusa do Eu. E sabe o quê? Eu sentia ciúme de quem lesse a minha Clarice! Porque, antes da exposição, as edições de vários de seus livros eram somente encontradas em sebos, estavam em falta nas livrarias. Depois é que vieram novas edições e um mundaréu de coletânea da Clarice-jornalista, da Clarice-cronista, etc.
Com toda essa admiração que carrego pela escritora, senti medo de me desapontar com a exposição. No caminho à Estação da Luz eu me perguntava se Clarice não se zangaria com a dissecação de sua vida e obra ela, que era tão misteriosa. O mesmo me perguntei no lançamento da última biografia da autora escrita por Benjamin Moser, que aconteceu na Livraria Cultura do Conjunto Nacional numa segunda-feira chuvosa do dia 23 de Novembro de 2009 (Nádia Battella Gotlib e Teresa Cristina Monteiro Ferreiro são autoras, respectivamente, de Clarice: uma vida que se conta e Eu sou uma pergunta: uma biografia de Clarice Lispector).
Devo ter passado mais de quatro horas no primeiro piso do Museu da Língua Portuguesa. As fotografias da beleza exótica e quase perturbadora de Clarice na entrada da exposição já alertavam que se tratava de uma mulher em potência. Os trechos escolhidos que viraram painéis enormes eram bonitos, mas não os meus preferidos. As paredes da última sala do espaço da mostra eram feitas de um armário de madeira com duas mil gavetas que guardavam em seu interior cerca de oitenta documentos originais da escritora, todos vindos da Fundação Casa de Rui Barbosa. Abri gaveta por gaveta. Li carta por carta. Fiquei a contemplar os exemplares de alguns títulos da autora que surgiam das gavetas. Os documentos, os rabiscos, os manuscritos… Todos estes arquivos pessoais ao passo que davam a impressão de uma Clarice real, gente como a gente, mãe, mulher, dona de uma solidão sábia, despertavam também uma sensação de estranhamento por saber que, no fundo, ela realmente parecia ter poderes; por entender que ela era capaz de se pôr frente a frente com o chamado da vida – sem nenhum medo, sem prudência nem pudor. Clarice é universal por justamente colocar à prova a condição de ser humano, por duvidar da ação consciente, por levantar teorias e reflexões sobre o ser-no-mundo em toda a sua obra, de modo a fazer sentar os demônios e os anjos no mesmíssimo chão vital.
Sendo a sua escrita repleta de figuras de linguagem, marcada pelo fluxo de consciência e vista como hermética e complicada, acredito que se houver preocupação com a tradução do português para outras línguas, o leitor não-brasileiro é capaz de captar a sua essência e de identificar-se com a narrativa, mesmo que tenha marcas regionais. Ora, os costumes, a cultura e a história de cada sociedade não fazem de nenhuma nação mais ou menos humana.
Em qualquer espaço da exposição que o visitante estivesse era possível ouvir a voz de dicção original de Clarice, vinda de um vídeo gravado pela TV Cultura no ano que a escritora veio a falecer, em 1977. O vídeo traz a última entrevista concedida ao jornalista Julio Lerner. Nesta filmagem, Clarice aparece taciturna, com os seus olhos de esfinge, fumando cigarros com a mão que mostra os sinais da queimadura de sofreu em 1967, quando pôs fogo em seu quarto por ter dormido com um cigarro aceso. Além do ar melancólico, Clarice faz confissões importantes. Descreve a sua adolescência como caótica, intensa e inteiramente fora da realidade da vida e afirma que se considera uma escritora amadora por escrever somente quando sente vontade. A entrevista é bastante invasiva e Clarice se mostra claramente triste. Eu já havia visto o vídeo ainda em 2005, no ano que conheci sua obra. Mas, apesar daquelas imagens e das falas não serem novidades para mim, eu me surpreendi muito com aquele cinema dramático de Clarice. Se todas as duas mil gavetas revelavam documentos pessoais da autora, a cena da entrevista de 67 abria a gaveta dalma de Clarice. Acredito que quem passou pela exposição A Hora da Estrela sentiu – como escreveu Drummond a ela o mistério e chave do ar que é o conjunto de sua vida e obra.
E, bom, por eu sempre duvidar da veracidade das biografias, não pretendo pelo menos por agora – ler o trabalho histórico feito por Benjamin Moser da vida e obra da escritora pós-modernista. Fui ao lançamento de Clarice, (lê-se Clarice Vírgula) por curiosidade, confesso. Queria saber o que Benjamin falaria em entrevista. Quero deixar claro que não estou julgando a sua atuação como biógrafo, e nem poderia. Eu, inclusive, me simpatizei por sua figura. A minha opção por não fazer leitura do material de pesquisa de Moser também se deve ao fato de eu me bastar com as informações que tenho sobre a vida de Clarice até o presente momento e principalmente por me satisfazer com o seu legado cultural, por sua produção literária. Afinal, cada um tem a sua Clarice independente da sua data de nascimento ou morte, de quantas viagens ela fez com seu marido diplomata, de quantos filhos teve, etc. A partir das entrelinhas de sua ficção é que, ousadamente, tentamos arrancar as peças do quebra-cabeça da incrível mulher que ela foi.
O evento da Livraria Cultura estava lotado de intelectuais, professores, leitores assíduos; foi bonito de ver. Para chegar até Benjamin Moser precisei enfrentar uma grande fila. Aguardei paciente, tomando um vinho branco do coquetel do lançamento, a minha vez – embora estivesse com uma vergonha tímida por não ter o mesmo propósito dos que ali estavam: o autógrafo do livro. Eu não tinha os R$63,20 (para quem não tem o cartão+cultura da livraria o valor era de R$79) para adquirir o livro e, sinceramente, não queria tê-lo. Então, quando chegou a minha vez – encabulada por ter as mãos vazias – resolvi me abaixar ao lado de Benjamin, atrás da mesa em que ele se encontrava durante toda a sessão de autógrafos. Não sei se a cena foi bonita ou estranha, mas nunca fui tão clicada num mesmo espaço de tempo por tantos fotógrafos em toda a minha vida. A pergunta que fiz a ele foi simples, era mesmo para saber a sua opinião nada que estivesse relacionado ao seu trabalho de biógrafo. O último livro publicado de Clarice, Um Sopro de Vida, foi organizado por sua amiga Olga Borelli e teve publicação póstuma. Sabe-se que a autora o escreveu na mesma época de A Hora da Estrela. Clarice morreu um dia antes da data de seu aniversário, em 9 de Dezembro de 1977, e dois meses depois da publicação do seu livro mais lido, o aclamado A Hora da Estrela. Deixou inacabado o então Um Sopro de Vida. Perguntei ao Moser se ele achava que Clarice publicaria o livro em vida e o que ele entendia dessa obra, que foi publicada sem ter fim. Ele me respondeu que não tinha motivo para o livro não ser publicado e que o fato do livro não ter fim significa o esgotamento, a morte literal, de Clarice. Dei um sorriso em agradecimento, levantei-me e segui rumo à saída da livraria sem olhar para trás, satisfeita com a minha ousadia de ter dado importância a uma troca de sentidos com um cara que no fim das contas é, como eu, um amante de Clarice. E em segundos estava eu debaixo da chuva na Avenida Paulista, com o sentimento de que todas as pessoas que cruzavam o meu caminho podiam ser tocadas pela paz de espírito que me tomava naquela noite escura & molhada.
Reviver a memória da angústia pueril dos meus 15 anos, que inaugurou a minha inquietação mental perante o mar da vida, e ver reunido um bom número de filhos de Clarice me descansa o pessimismo e me faz crer que o ser humano ainda tem fome de si.
Fonte: Folha de Dourados